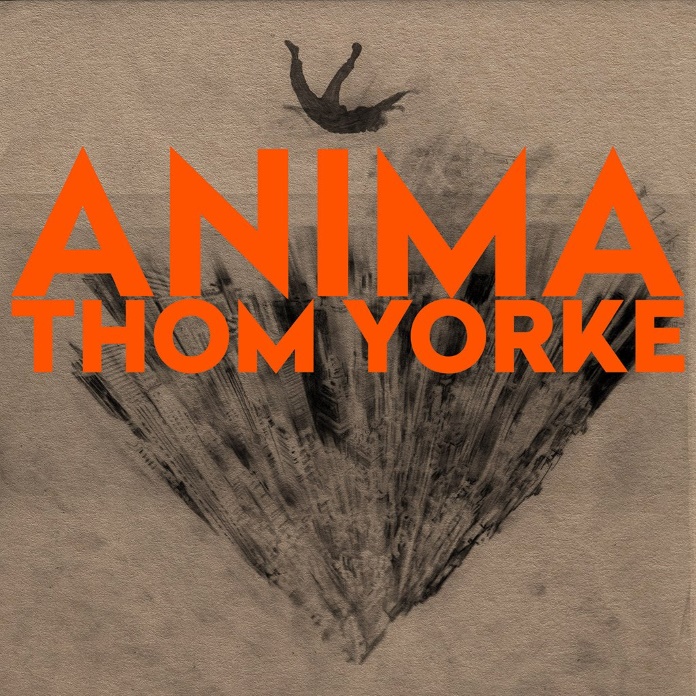Definitivamente elas se saíram muito melhor nesse negócio de lançar discos em 2019 do que eles. Lana Del Rey, FKA Twigs, Solange, Jamila Woods, Angel Olsen e até estreantes como a Billie Ellish, tem feito a festa de quem elabora relações de melhores, figurando nas primeiras posições das listas em diversas publicações mundo afora. No Picanha não foi diferente e não é por acaso que, entre as 25 primeiras posições, 14 são de artistas femininas ou de bandas que possuem uma vocalista. Se a análise contabilizar as menções honrosas, esse número aumenta ainda mais, chegando a um total expressivo de 24 cantoras/compositoras integrando a nossa lista. Mero acaso ou reflexo de um mundo em que o contraponto para as desgraças que vivemos em todas as esferas, ecoa melhor na voz delas, eis a nossa lista com os 25 Melhores Discos Internacionais de 2019, com mais 15 Menções Honrosas. Ainda dá tempo de colocar em dia as audições musicais, antes da virada do ano. Boa leitura!
Menções Honrosas
40) Florist (Emily, Alone)
39) Kaiser Chiefs (Duck)
38) Hot Chip (A Bath Full Of Ecstasy)
37) Purple Mountains (Purple Mountains)
36) Muna (Saves The World)
35) Kaytranada (BUBBA)
34) Jenny Lewis (On The Line)
33) Carly Rae Jepsen (Dedicated)
32) Cigarettes After Sex (Cry)
31) Julia Jacklin (Crushing)
30) (Sandy) Alex G (House Of Sugar)
29) Caroline Polachek (Pang)
28) Big Thief (UFOF)
27) Kim Gordon (No Home Record)
26) Angel Olsen (All Mirrors)
25) Harry Styles (Fine Line): uma das críticas ao trabalho de Styler é o fato de ele "atirar para todo o lado" na hora de fazer a sua música. Bom, quisera eu ter a personalidade para pegar melodias que vão de trilhas sonoras de filmes oitentistas (Golden), pop noventa (Watermelon Sugar) e baladosas invernais Bon Iver wannabe (Fine Line) e folk (Cherry), para dar uma cara toda própria, num registro apaixonado, oxigenado, que deixa cada vez mais para trás os badalados anos de One Direction. Comercial até dizer chega, cada canção funciona bem como peça isolada, tendo também sua funcionalidade no coletivo - e não há nenhum regra que atrele homogeneidade e qualidade na hora de se avaliar um álbum. "Eu acho que nesse álbum houve momentos em que eu estava meio triste, provavelmente alguns dos momentos mais tristes da minha vida, mas ao mesmo tempo, quando eu estava feliz eram os melhores momentos de minha vida. Então, [o álbum] é ambas as coisas. É uma 'linha tênue' (Fine Line, em inglês)", resumiu em entrevista ao programa da Ellen DeGeneres.
24) Black Keys (Let's Rock): se tem algo que permanece inalterado neste nono registro da dupla Dan Auerbach e Patrick Carney é a capacidade de realizar, com toda a qualidade e perseverança do mundo, aquele rockão garageiro, meio alternativo, meio eletrônico, que nos faz abrir um sorriso sem muito esforço. Não, não é a salvação da lavoura - aliás, beeem longe disso (bem longe até de ser um novo El Camino, que segue sendo o do coração). Mas, para um estilo que tem sido sinônimo de música ultrapassada, quadrada, poder ouvir um álbum que ecoa a juventude perdida de algum tempo que não volta mais, misturando o clássico e o moderno em igual medida, nos parece algo para manter a esperança renovada. Pra quem acha que o deboche, após um hiato de cinco anos pode ter se dissipado, vale uma conferida no videoclipe para o single Go, com sua letra divertida sobre a importância das relações humanas (Você está sozinho? / Você está se sentindo com frio? / Encontre sua chama).
23) Thom Yorke (ANIMA): quem acompanha a carreira do Radiohead sabe que a banda não é para toda a hora, lugar ou paladares. À exceção do inferninho dos alternativos, você não vai parar a festinha animada pra colocar uma música dos britânicos, né? Pois para este jornalista, os álbuns de Yorke, seja em carreira solo ou com a sua banda, sempre foram os "discos para ouvir de fone de ouvido". Atualmente, o ANIMA é um dos meu álbuns para a caminhada de começo de noite, onde o lusco fusco do dia que chega ao fim se mistura com o vulto dos prédios e com os carros que avançam, com as batidas hipnóticas, a eletrônica torta, o vocal caudalosamente melancólico e as ambientações fantasmagóricas que emanam do registro funcionando como um contraponto para a urgência de uma vida que nunca para - mesmo em uma cidade pequena como Lajeado. "É o álbum mais sombrio e tenro que Yorke lançou fora do Radiohead, flutuando inquieto pelo espaço entre a turbulência social e o monólogo interno", resumiu o crítico Philip Shernburne do Pitchfork. Concordamos.
22) Fontaines D.C. (Dogrel): vamos combinar que banda que toca um rock mais cru, direto e de qualidade anda sendo artigo quase raro. O estilo virou coisa de tiozão que usa aquela jaqueta de couro cheirando a naftalina e que se orgulha da sua Harley Davidson, que servirá para compensar a ausência de outros atributos. Mas ainda há respiro - especialmente quando surgem para o mundo coletivos como este. Saída de Dublin, a banda respira na fonte do pós-punk mais comercial, misturando a fúria soturna da percussão e do baixo mais embriagados, com as letras agridoces sobre romances tortos em meio a guitarras mais enérgicas. O álbum transpira personalidade e utiliza o deboche e a ironia na abordagem do País de origem, sendo esta a matéria-prima para muitas canções - o que pode ser comprovado pela letra corrosiva de Big (Dublin na chuva é minha / Uma cidade grávida com uma mente católica), que prepara o terreno para Sha Sha Sha, Too Real, Television Screens e outras maravilhas.
21) Sleater-Kinney (The Center Won't Hold): se o trio formado em Olympia já discutia com força e propriedade as questões de gênero, o machismo dominante e o papel da mulher na sociedade nos anos 90 - quando gestou álbuns clássicos como Call The Doctor (1996) e Dig Me Out (1997) -, nos tempos atuais, de tantos retrocessos, a banda de Carrie Brownstein e companhia permanece mais do que relevante. Do retorno em 2015 com o indispensável No Cities To Love até o lançamento deste mais recente registro, apenas uma pequena mudança: a saída da baterista Janet Weiss do grupo, por motivos de "diferenças artísticas". Só o que não mudou foi o peso na sonoridade furiosa do trio, sempre visceral e que, amparado por duas guitarras e uma bateria, fazem a paisagem sonora perfeita para as letras divertidas, confessionais e eventualmente sacanas sobre temas cotidianos os mais variados. Da popice quase agridoce de e Can I Go On ao peso ruidoso de RUINS, o trabalho, tão acessível quanto o anterior, é pura energia.
20) Billie Eilish (When We All Fall Asleep, Where do We Go?): aquele millenial autocomiserativo e melancólico, que fica ouvindo música triste enfurnado em um quarto mal iluminado, finalmente tem um artista para chamar de seu. E, como numa espécie de paradoxo, é justamente o visual soturno da cantora, somado ao aspecto divertidamente sombrio de suas letras e melodias (que vão no limite entre o gótico, o pop e a música eletrônica minimalista) que a torna algo diferente das jovens exibicionistas que insistem em aparecer Instagram afora. Tudo bem que Eilish continua sendo SIM uma adolescente, como atestam letras ferozes (e sensuais) como no caso do megahit Bad Guy (Eu sou do tipo ruim / Do tipo que deixa sua mãe triste / Do tipo que deixa sua namorada brava) . Mas o senso de humor obscuro, que brinca com a ideia de pesadelos prontos a acontecer - como sugere o nome e a capa do álbum -, ronda cada curva desse hipnótico registro de estreia.
19) Ariana Grande (thank u, next): foi no primeiro semestre desse ano que Ariana Grande chorou em meio à uma entrevista para a revista Vogue, ao falar das canções que integram este seu quinto álbum de estúdio. Extremamente confessionais, as letras contidas no registro servem, também, como forma de expiar a dor pela morte do ex-namorado, o rapper Mac Miller, que foi vítima de uma overdose acidental no ano passado. "É difícil cantar músicas que são sobre feridas tão recentes. É divertido, é música pop, e eu não estou tentando fazer parecer que não é, mas essas músicas para mim realmente representam coisas pesadas", alegou na época. Não é difícil entender, portanto, este registro como parte de um doloroso processo de amadurecimento, com canções como imagine, fake smile, bloodline e 7 rings (assim mesmo, com letras minúsculas), servindo como a trilha sonora oficial para a superação do trauma - que deixa a garotinha vista em séries como Sam & Cat definitivamente para trás.
18) Tyler, The Creator (IGOR): confesso a vocês que já estava arrebatado pela primeira metade deste registro, quando cheguei na canção A Boy Is a Gun, música que abre o "lado B" do álbum. Com melodia envolvente, perfumada por entalhes coloridos e nostalgicamente enfumaçados - que remetem a propagandas de TV de alguma década que não sabemos qual -, a canção traz como contraponto, uma letra nervosa e metafórica sobre o uso de armas e sobre violência doméstica. Em 2017, com o delicioso Flower Boy, Tyler já tinha utilizado expediente semelhante, com melodias que parecem sonhos oníricos em meio a canções de ninar, que se misturam com a urgência e a violência das ruas, a vida noturna e urbana e os relacionamentos temperados por descobertas, crises e separações. Com uma estética que remete ao Frankenstein - o Igor surge numa versão cosmopolita na capa -, o trabalho consolida Tyler como um dos principais nomes do rap na atualidade, ao lado de Kendrick Lamar e Frank Ocean - este último, por sinal, com estética bastante semelhante.
17) Brittany Howard (Jaime): ainda que aqui e ali o perfume do Alabama Shakes persista em aparecer no primeiro registro solo de sua vocalista, é preciso que se diga que este é um trabalho cheio de personalidade, com Howard cantando cada canção não apenas com a voz, mas com o corpo todo, com a alma, com grunhidos e suspiros que remetem a uma infância difícil, dolorosa, em um sul dos Estados Unidos totalmente racista. A Jaime que dá nome ao disco é a irmã da artista e ainda que o álbum não seja necessariamente sobre ela, parece haver nele uma familiaridade que centraliza o disco num espectro mais familiar. Com letras sobre relacionamentos conturbados (History Repeats) se revezando com outras de cunho mais político (13th Century Metal), Howard constrói a sua colcha de retalhos particular, desnovelando seus próprios sentimentos numa mistura crua e explosiva de jazz, soul, música eletrônica e rock, claro!
16) Weyes Blood (Titanic Rising): bem menos hermético do que o trabalho anterior - o psicodelicamente espacial Front Row Seat to Earth (2016) -, o mais recente registro de Natalie Mering finalmente faz um aceno ao pop. Sim, agora é possível cantar o refrão, enquanto viajamos nas paisagens etéreas de suas melodias que sinalizam para as grandes orquestrações, em meio a barulhos e efeitos bem mais organizados, que servem de base para o seu vocal marcante. O disco mistura de tudo um pouco, indo da dramaticidade do piano na abertura A Lot's Gonna Change, passando pela setentista Everyday até chegar no soft rock multicolorido de Wildtime. Claramente influenciada pelo cinema - uma grande paixão, como já admitiu em diversas entrevistas e que é simbolizado pela metafórica Movie, presente neste álbum -, Mering utiliza as suas composições ora nostálgicas ora futuristas, como ferramenta para a discussão não apenas de relacionamentos, mas também de temas como mudanças climáticas e uso da tecnologia.
15) Bon Iver (i,i): arranjos delicados que se mesclam a ambientações eletrônicas e a um vocal que parece "grudado" às melodias invernais, ainda que aconchegantes. Desde sempre o trabalho de Justin Vernon como Bon Iver foi assim, ainda que a aproximação com os sintetizadores tenha se ampliado na experiência um tanto mais hermética de seu disco anterior - o ótimo 22, A Million, o nosso sexto colocado entre os melhores de 2016. Em i,i, o padrão se mantém, com cada composição sendo apresentada como um fragmento levemente caótico, que retira um pouco da melancolia doce dos primeiros trabalhos, para apostar em um folk mais desordenado. Ainda assim, a impressão que se tem é a de que Vernon "limpou" as arestas daquilo que foi testado no trabalho anterior, abrindo espaço para composições um pouco mais leves, com direito até mesmo a refrão - como comprova a graciosa Hey, Ma (Durante todo o tempo você fala do seu dinheiro / Enquanto vive em uma mina de carvão / Ainda está em tempo, ligue para sua mãe / Ei, mãe, ei, mãe).
14) The National (I Am Easy To Find): o The National é aquela banda garantida, que até disco mais ou menos é bom e que tem cadeira cativa na nossa lista de melhores. Neste oitavo trabalho de estúdio, a impressão que temos é a de que os americanos optaram por um retorno àquilo que eles sabem fazer como ninguém: um rock soturno, eventualmente minimalista e repleto de divagações do homem moderno e de filosofias bebadamente românticas. Se o trabalho anterior, Sleep Well Beast (2017), apostava em uma sonoridade mais barulhenta, invocando elementos eletrônicos em meio as guitarras raivosas e o vocal "final de tarde chuvoso" de Matt Berninger, agora há um pouco menos de expansão, um aceno para o recolhimento e para as melodias que fazem lembrar o melhor disco do coletivo, até hoje: o incensado Boxer (2017). Talvez o registro assuste um pouco pelos seus 63 minutos de duração (e 16 faixas), mas quem se arriscar em faixas como Quiet Light, Oblivions e Rylan, por exemplo, se sentirá recompensado.
13) Solange (When I Get Home): pode causar um certo estranhamento ao ouvinte mais desavisado o estilo meio "picado" do quarto álbum da mais nova das irmãs Knowles. Aqui, diferentemente da poética mais direta do ótimo A Seat At The Table - nosso primeiro colocado na lista de melhores de 2016 -, as 19 músicas se espalham em 38 minutos entrecortados por vinhetas e trechos curtos onde a repetição de versos e de ideias sobre empoderamento feminino, histórias familiares e orgulho negro, é a matéria-prima para um trabalho que funciona como uma homenagem à sua Houston natal - seus lugares, cheiros e cores reais ou imaginárias. Mesmo com esse temperamento, o registro não deixa de celebrar a música, seus estilos e personagens, indo do abstrato (Things I Imagined) ao real (Stay Flo), em questão de segundos. Tão excêntrico quanto belo, o álbum mistura jazz, eletrônica e hip hop, formando um conjunto espiritualmente coeso e rico. Difícil de resistir.
12) Jimmy Eat World (Surviving): veteranos do emo norte americano, o Jimmy Eat World foi lapidando seu som a medida em que foi ganhando mais experiência (velhice, na real) e deixando o chororô das bandas do estilo um pouco mais de lado. Em seu mais recente trabalho, há um surpreendente retorno à intensidade guitarreira de discos como Bleed American (do sucesso The Middle). Bateria pulsante e um peso praticamente sem precedentes na discografia da banda nos entrega um álbum vigoroso, mas sem perder mão de hits como All the Way (Stay), que lembra grandes sucessos do passado - e surpreende ao trazer um solo de saxofone, algo até então inédito. Mas é nas faixas mais "diferentes" que a banda demonstra evolução e nos entrega duas das melhores canções do ano: enquanto Delivery toca direto ao coração com sua melancolia agridoce é na fantástica (e sintetizada) 555 que os americanos conseguem subir um nível ainda maior na já tão celebrada carreira musical. Um disco curto e para se ouvir no repeat dezenas de vezes.
11) Jamila Woods (LEGACY! LEGACY!): Erykah Badu, Nina Simone, Tracy Chapman, Macy Gray e, agora, Jamila Woods. Não foram poucas as cantoras e compositoras que utilizaram a sua arte como veículo para o ativismo ou para chamar a atenção para assuntos relevantes da atualidade - como feminismo negro e amor próprio. Não é por acaso que a cantora nomeia cada uma de suas canções, com o nome de ícones negros históricos da literatura, da música e de outras artes, que funcionam como se fossem "guias espirituais", que se empenharão em levar adiante - assim como já fizeram em seu tempo -, mensagens de consciência e de respeito às diferenças. Frida, por exemplo, é pura paixão no "debate" sobre o respeito à individualidade (Eu gosto mais de você quando nos vemos menos / Eu gosto mais de mim quando não estou tão estressada / Nós poderíamos fazer isso como Frida), tornando a arte surrealista da pintora mexicana palpável. Este é apenas um exemplo, num registro que é um espetáculo que merece ser degustado com calma.
10) Sharon Van Etten (Remind Me Tomorrow): o processo autocomiserativo de compartilhamento da dor é o que torna a audição de qualquer registro dessa americana como algo próximo da intimidade do ouvinte. Afinal de contas, quem nunca sofreu por amor? Quem nunca quis arrancar o seu coração, as suas vísceras e tudo o mais de dentro do peito para jogar pela janela, como forma de tentar cessas as tristezas? Quinto trabalho de estúdio da artista, Remind Me Tomorrow dá continuidade ao clima melancolicamente soturno do anterior Are We There (2014), com uma coleção de canções tão liricamente doloridas, quanto lindas. Com uma voz capaz de se agregar as melodias, formando uma espécie de "colagem de uma coisa só", Sharon alcança a maturidade com sua poética de versos atormentados, que podem ser resumidos em letras como a de No One's Easy To Love (Desejo meu amor, saio com o amanhecer / Agindo como se toda a dor do mundo fosse culpa minha).
9) Michael Kiwanuka (KIWANUKA): a melancolia introspectiva do trabalho anterior Love & Hate (2016) - que deu ao mundo o hits Cold Little Heart e a própria Love & Hate -, dá lugar a um álbum mais amplo, mais aberto e com mais experimentações neste KIWANUKA. Nesse sentido, o britânico parece ainda mais à vontade para trafegar com naturalidade em meio a estilos e ambientações, imprimindo e sua personalidade a cada canção - seja ela uma balada sobre romances que se desfazem (Piano Joint - This Kind Of Love) seja uma canção mais urbana, enérgica e roqueira a respeito de violência urbana (Rolling). "O último álbum veio de um lugar introspectivo e parecia terapia, eu acho. Este é mais sobre se sentir confortável a respeito de quem eu sou e perguntar o que eu quero dizer. [...] É um álbum que explora o que significa ser um ser humano hoje", afirmou ao semanário New Musical Express. Kiwanuka se desafiou. E entregou seu melhor disco até hoje.
8) FKA Twigs (MAGDALENE): acho que a FKA Twigs é um daqueles casos da música moderna em que a artista se expressa num misto de alma com entranhas. É poesia e melodia se juntando e vindo de dentro, das profundezas de algum lugar em que beleza e dor se encontram para formar maravilhas como a canção Cellophane, que, com sua letra sobre interferências externas que impedem a consolidação de um relacionamento (Eles estão esperando / Eles estão assistindo / Eles estão nos observando / Eles estão odiando), se tornou certamente a melhor música de 2019. Assim como no igualmente belo LP1 (2014), a britânica faz uma mistura absolutamente sedutora de trip hop, R&B e música eletrônica em que emanações mais gélidas, se confundem com batidas secas e efeitos variados, com o vocal sussurrado, que formando a base para canções elegíacas como Thousand Eyes e Mirrored Heart - além da já citada Cellophane, claro.
7) Bedouine (Bird Songs Of a Killjoy): ouvir este álbum é mais ou menos como assistir a um filme intimista, de baixo orçamento, mas que nos arrebata sem firulas, nos assombra na sutileza, sem abuso de grandes efeitos especiais. Utilizando a voz e o violão como a base para tudo, essa artista que nasceu em Aleppo, na Síria, é puro coração nas suas narrativas metaforicamente bucólicas, que utilizam figuras como o cavalo que precisa de um portão para deixar o pasto ou do pássaro que sai da gaiola, para evocar sentimentos diversos em relacionamentos conturbados (ou não). Na delicada One More Time, por exemplo, a figura de linguagem é o mar: Eu sou apenas a praia você é apenas as ondas / Você vai rolar a cada poucos dias / Tentarei traçar linhas na terra / Mas você lavará a areia. É música com alma, cheia de efeitos bem colocados que reforçam o clima iluminadamente pastoril de obras-primas como Under The Night ou Matters Of The Heart.
6) Local Natives (Violet Street): está aí uma banda que as pessoas não costumam dar muita bola, que dificilmente aparece nas listas de melhores, mas que é agradabilíssima de se ouvir. Recheada de melodias adocicadas e emanações folk - à moda de um Fleet Foxes, se tal grupo tivesse tomado uma "chuveirada de música pop" -, esse é aquele disco que aconchega o ouvinte, convidando-o para uma audição minuciosa, sem pressa. Existe qualquer coisa de confortável nas canções econômicas, cantadas sem excessos, ainda que a maioria das letras discuta relacionamentos que, se ainda não terminaram, estão caminhando para isso - como no caso da autoexplicativa (e ótima) When Am I Gonna Lose You (Espere, quando vou te perder? / Como vou deixar você escapar? / Descuidado ou indelicado?). Pode até soar eventualmente triste ou melancólico em algum momento, mas verdadeiras gemas como Café Amarillo, Megaton Mile e Shy mostram que ainda há espaço para um sorriso, em meio as ensolaradas praias da Califórnia.
5) Lana Del Rey (Norman Fucking Rockwell): quem acompanha o Picanha sabe que a gente sempre gostou da Laninha (nosso apelido carinhoso com ela) e a impressão que temos é de que ela melhora a cada registro. Em seu quinto álbum de estúdio, o estilo retrô/enfumaçado/romântico/lânguido permanece o mesmo de seus trabalhos anteriores - com o ápice alcançado no disco Lust For Life, não por acaso o nosso terceiro na relação de grandes álbuns de 2017. No novo trabalho, uma elegância elevada, evocativa, que desconstrói o "sonho americano" já no seu título (Rockwell foi retratista de presidentes americanos como Richard Nixon), enquanto Lana sussurra seus versos de forma provocativa, fragmentada. Há espaço para o pop, como comprovam as candidatas a hit California e a irônica Next Best American Record. Mas o álbum é mais do que isso, e quem tiver a paciência de encarar os seus mais de 60 minutos com as letras a tiracolo, se surpreenderá ainda com o refino de seus versos - ao mesmo tempo autoindulgentes e sarcásticos. Vale cada segundo.
4) Vampire Weekend (Father Of The Bride): eu sou meio suspeito em falar da banda de Ezra Koenig e companhia por que, por ser uma das preferidas, pra mim o efeito é meio parecido com o daquele meme do "Vampire Weekend: a", eu: "melhor disco do ano!". Mais ou menos como aquele caso do nem ouvi já gostei, por que, vamos combinar, a gente sabe que vai vir coisa boa. Saindo do hiato que já durava seis anos desde Modern Vampires Of The City - talvez um dos melhores álbuns do milênio -, o trio retorna com uma longa coleção de canções harmoniosamente alegres, pontuadas pela mescla mais perfeita de música clássica, latinidade, ritmos africanos (a percussão, SEMPRE) e um pop que vai no limite entre o punkzinho shoegaze e o alternativo capaz de beber na fonte das melodias mais comerciais. Intelectuais e divertidos, seguem matadores nas letras debochadas, como comprova o megahit This Life (Querida, eu sei que a dor é tão natural quanto a chuva / Eu só pensei que não chovia na Califórnia). Sério, como não amar isso?
3) Taylor Swift (Lover): disparado o melhor disco da carreira da artista, Lover é a conversão perfeita dos white people problems adolescentes em verdadeiras gemas pop. Extremamente bem produzido, repleto de camadas, efeitos, batidas e sintetizadores que, organicamente, funcionam para evidenciar o vocal em plena forma da cantora, o álbum é um desfile de grandes canções, que mesclam momentos mais etéreos (Cruel Summer), com pop sofisticado (Cornelia Street, uma das melhores canções internacionais do ano), roquinho movimentado (Paper Rings) e até hip hop (London Boy). De quebra, as letras são maduras, graciosas, deixando ainda mais para trás aquela garota sofrenilda, esquisitinha, que, empunhando um violão, se esforçava para exorcizar os dramas dos relacionamentos juvenis fracassados em uma existência vazia e de pouca experiência aos 17 anos. No sétimo disco, Taylor já alcançou os 30 e sua persona arejada, confiante, é muito mais interessante.
2) Lizzo (Cuz I Love You): Ponha a culpa na minha suculência, querido / Não é minha culpa que eu estou aqui chamando atenção / Na fila do pão eu sou o sonho (o sonho na fila do pão) / Ponha a culpa na minha suculência (culpe minha suculência). Negra, obesa e de origem humilde, Lizzo é um daqueles casos em que as canções ignoram o status quo e emanam autoestima, positividade e amor próprio por todos os seus poros. Em um momento em que tanto se fala em representatividade, ver uma artista que desafia os padrões estéticos e exibe com orgulho a sua "suculência", tornando o empoderamento a sua principal matéria-prima, é algo digno de nota. Mas nesse caso não é só comportamento: é música boa, leve, divertida, dançante e sem vergonha, em um álbum cheio de letras sacanas sobre homens que não amadurecem e mulheres independentes. Tendo o hip hop como peça central, Lizzo faz um mergulho em estilos variados como o soul (Jerome), o jazz (Lingerie), o rap (Soulmate) e o funk (Juice, a letra que abre esse textinho).
1) Big Thief (Two Hands): como nos grandes discos que conseguem captar a atmosfera do local onde a banda se encontra, neste álbum vemos uma banda em plena capacidade de execução e expressão dos sentimentos. Ao optar por um som cru sem muitas aparas e imperceptíveis overdubs, a sensação é a de estarmos assistindo ao ensaio do coletivo de dentro do estúdio. E é aí que a mágica acontece de verdade! Bateria, baixo, violão, guitarra, o vocal peculiar de Adrianne Lenker... são fatores a princípio pequenos mas que em conjunto resultam em algo difícil de explicar em palavras. Se no álbum anterior - o igualmente incensado UFOF, lançado também neste ano -, os sons nos remetiam a uma certa estranheza, como se estivéssemos em um lugar desconhecido, é no clima de familiaridade que somos acolhidos neste maravilhoso registro. E sabemos que a simplicidade requer muito trabalho para ser atingida - algo que gemas como The Toy, Not, Shoulders e Those Girls, conseguem com maestria.
Sim, a gente tem certeza de que faltou muito disco legal nessa relação, mas vocês podem nos ajudar a completá-la! E se vocês curtem listas, não deixem de conferir as nossas com os melhores discos internacionais dos anos de 2018, 2017, 2016 e 2015. Vale recordar!
quarta-feira, 25 de dezembro de 2019
quinta-feira, 19 de dezembro de 2019
Na Espera - O Escândalo (Filme)
Dada a expectativa em torno de O Escândalo (Bombshell), acho que esse é o filme que mais estou torcendo por indicações ao Oscar - especialmente do trio feminino principal (as atrizes Margot Robbie, Charlize Theron e Nicole Kidman). Elas integram um grupo de mulheres que acusa o gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow, embaixo de uma pesada maquiagem), de assédio sexual. A trama aparentemente discute o machismo existente no universo televisivo, a partir de uma história real, com o trailer dando conta dos bastidores e das reações das pessoas diante do caso.
A obra é dirigida por Jay Roach - que depois de filmes estúpidos como Um Jantar Para Idiotas (2010) e Os Candidatos (2012) -, tem a sua disposição um bom material, com alguma chance de dar um brilho a mais para uma carreira que segue tendo como ponto alto a comédia Entrando Numa Fria (2000). Além das atrizes, a película, que estreia por aqui no dia 30 de janeiro de 2020, corre por fora por uma vaga nas categorias Filme, Roteiro Original e Maquiagem. Por aqui, resta esperar: janeiro é logo ali!
A obra é dirigida por Jay Roach - que depois de filmes estúpidos como Um Jantar Para Idiotas (2010) e Os Candidatos (2012) -, tem a sua disposição um bom material, com alguma chance de dar um brilho a mais para uma carreira que segue tendo como ponto alto a comédia Entrando Numa Fria (2000). Além das atrizes, a película, que estreia por aqui no dia 30 de janeiro de 2020, corre por fora por uma vaga nas categorias Filme, Roteiro Original e Maquiagem. Por aqui, resta esperar: janeiro é logo ali!
Cinema - Sinônimos (Synonymes)
De: Nadav Lapid. Com Tom Mercer, Louise Chevilotte, Quentin Dolmaire e Olivier Loustau. Drama, Israel / Alemanha / França, 2019, 119 minutos.
Devo dizer a vocês que gosto desses filmes que precisam ser desvendados, que são cheios de camadas, sem um começo, um meio e um fim bem definidos. Que não são óbvios naquilo que querem dizer, mas acreditam na capacidade do espectador de juntar os pontos para que a "mensagem" seja compreendida. E esse é o caso do ótimo Sinônimos (Synonymes), último vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim. Na narrativa, uma série de fragmentos visuais, pequenas colagens em sequência que forma um mundo que parece à beira do colapso, pautado por uma política de exclusão, de intolerância e de preconceitos diversos. Nações que deveriam derrubar muros os constroem. Povos que são diferentes apenas nas aparências e que deveriam olhar para si com mais compaixão, com mais empatia e com menos ódio, se afastam, se isolam - culturalmente, politicamente, socialmente. Religiosamente.
Há uma crise relacionada ao tema da imigração, afinal, com casos de xenofobia e de violência aumentando exponencialmente. Na trama, Yoav (Tom Mercer) é um jovem israelense que se refugia em Paris para tentar uma nova vida. Por uma nova vida leia-se excluir completamente a sua identidade do passado, bem como sua bagagem, sua história, para se tornar uma nova pessoa, parisiense, de bons modos, distante da guerra, do fundamentalismo, da fome e da miséria. Mas será que a França é assim tão diferente? Será que ela recebe bem os estrangeiros e os ampara? Será que ela concede aos seus cidadãos a autonomia política e religiosa? Nesse sentido, a película do diretor Nadav Lapid brinca o tempo todo com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade - tão caros ao povo francês - subvertendo-os nos pequenos atos, nas pequenas opressões. Ou nem assim tão pequenas, como entrega a curiosa (e incômoda) sequência em que Yoav se submete a uma sessão de fotos absurdamente constrangedora.
Após um primeiro ato em que Yoav é auxiliado pelo "caridoso" casal burguês Caroline (Louise Chevilotte) e Emile (Quentin Dolmaire), o protagonista aprende uma série de palavras em francês, passa a usar roupas parisienses, desejando apagar qualquer resquício da língua hebraica, bem como as memórias dos dias frios em meio a cenários inóspitos. Com uma série de metáforas envolvendo a fortes contra enfrentando fracos - com menções à galos em rinhas ou ao personagem Heitor (que é derrotado por Aquiles, na Guerra de Troia), Yoav perceberá, da maneira mais dura, que será praticamente impossível deletar uma identidade que está impregnada na sua existência. Não dá para simplesmente se transformar em francês em um mundo que mal aceita as diferenças culturais e que prefere fechar portas literais, como exemplifica uma das mais metáforicas sequências do filme.
Com uma câmera na mão que cola em seus personagens, uma montagem que não se ocupa tanto da Paris dos cartões postais e uma fotografia granulada e empalidecida que emula a Nouvelle Vague (senti ecos até mesmo do Godard, na parte técnica), Sinônimos será aquela obra que não será facilmente degustada, mas que deixará o espectador satisfeito ao reconhecer os instantes que reforçam as ideias apresentadas pelo roteiro. E para este jornalista que vos escreve, não há nenhuma parte mais exemplar nesse sentido do que aquela em que uma turma de estrangeiros canta a Marselhesa como forma de se apropriar da cultura do País (lembrando que o hino da França fala em derramamento de sangue de impuros, num clima violentamente bélico). Imprevisível, excêntrico, embaraçoso, desconfortável, audacioso, enlouquecedor.. não faltarão palavras (e seus sinônimos) para resumir a experiência.
Nota: 8,5
Devo dizer a vocês que gosto desses filmes que precisam ser desvendados, que são cheios de camadas, sem um começo, um meio e um fim bem definidos. Que não são óbvios naquilo que querem dizer, mas acreditam na capacidade do espectador de juntar os pontos para que a "mensagem" seja compreendida. E esse é o caso do ótimo Sinônimos (Synonymes), último vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim. Na narrativa, uma série de fragmentos visuais, pequenas colagens em sequência que forma um mundo que parece à beira do colapso, pautado por uma política de exclusão, de intolerância e de preconceitos diversos. Nações que deveriam derrubar muros os constroem. Povos que são diferentes apenas nas aparências e que deveriam olhar para si com mais compaixão, com mais empatia e com menos ódio, se afastam, se isolam - culturalmente, politicamente, socialmente. Religiosamente.
Há uma crise relacionada ao tema da imigração, afinal, com casos de xenofobia e de violência aumentando exponencialmente. Na trama, Yoav (Tom Mercer) é um jovem israelense que se refugia em Paris para tentar uma nova vida. Por uma nova vida leia-se excluir completamente a sua identidade do passado, bem como sua bagagem, sua história, para se tornar uma nova pessoa, parisiense, de bons modos, distante da guerra, do fundamentalismo, da fome e da miséria. Mas será que a França é assim tão diferente? Será que ela recebe bem os estrangeiros e os ampara? Será que ela concede aos seus cidadãos a autonomia política e religiosa? Nesse sentido, a película do diretor Nadav Lapid brinca o tempo todo com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade - tão caros ao povo francês - subvertendo-os nos pequenos atos, nas pequenas opressões. Ou nem assim tão pequenas, como entrega a curiosa (e incômoda) sequência em que Yoav se submete a uma sessão de fotos absurdamente constrangedora.
Após um primeiro ato em que Yoav é auxiliado pelo "caridoso" casal burguês Caroline (Louise Chevilotte) e Emile (Quentin Dolmaire), o protagonista aprende uma série de palavras em francês, passa a usar roupas parisienses, desejando apagar qualquer resquício da língua hebraica, bem como as memórias dos dias frios em meio a cenários inóspitos. Com uma série de metáforas envolvendo a fortes contra enfrentando fracos - com menções à galos em rinhas ou ao personagem Heitor (que é derrotado por Aquiles, na Guerra de Troia), Yoav perceberá, da maneira mais dura, que será praticamente impossível deletar uma identidade que está impregnada na sua existência. Não dá para simplesmente se transformar em francês em um mundo que mal aceita as diferenças culturais e que prefere fechar portas literais, como exemplifica uma das mais metáforicas sequências do filme.
Com uma câmera na mão que cola em seus personagens, uma montagem que não se ocupa tanto da Paris dos cartões postais e uma fotografia granulada e empalidecida que emula a Nouvelle Vague (senti ecos até mesmo do Godard, na parte técnica), Sinônimos será aquela obra que não será facilmente degustada, mas que deixará o espectador satisfeito ao reconhecer os instantes que reforçam as ideias apresentadas pelo roteiro. E para este jornalista que vos escreve, não há nenhuma parte mais exemplar nesse sentido do que aquela em que uma turma de estrangeiros canta a Marselhesa como forma de se apropriar da cultura do País (lembrando que o hino da França fala em derramamento de sangue de impuros, num clima violentamente bélico). Imprevisível, excêntrico, embaraçoso, desconfortável, audacioso, enlouquecedor.. não faltarão palavras (e seus sinônimos) para resumir a experiência.
Nota: 8,5
terça-feira, 17 de dezembro de 2019
Tesouros Cinéfilos - The Farewell (The Farewell)
De Lulu Wang. Com Awkwafina, Zhao Shuzhen, Diana Lin, Tzi Ma e Aoi Mizuhara. Comédia / Drama, China / EUA, 2019, 99 minutos.
Filmes sobre relações familiares existem aos montes, mas nem todos com o tipo de sutileza e o naturalismo adotados neste The Farewell (The Farewell). É uma obra que te emociona sem forçar e que flui adicionando beleza e doçura em cada frame. Também é uma obra que te diverte, com alguns momentos chegando quase ao humor involuntário. E que te faz pensar sobre as diferenças culturais existentes entre ocidentais e orientais ou mesmo sobre os caminhos que tomamos em nossas vidas. Na trama simplíssima, uma doce senhora já na casa dos 80 anos (a veterana Zhao Shuzhen) é diagnosticada com um câncer terminal. Para que a sua passagem não seja traumática, a família - seus filhos, netos e demais parentes - resolve esconder dela a informação de que está severamente doente. E para que todos os integrantes possam visitá-la sem despertar desconfiança, resolvem forjar o casamento de um neto.
Só que uma parte da família mora nos Estados Unidos há cerca de 25 anos - entre elas a neta de Nai Nai (como a idosa é conhecida), Billi (Awkwafina). Apesar de longe da avó, ela mantém uma relação de proximidade: costumam conversar por telefone, trocar confidências. Billi é uma mulher independente, que se afastou da cultura chinesa ao morar praticamente a vida toda no ocidente: pior, mal fala mandarim, mas se esforçará de maneira enternecedora para estar próxima de sua idosa avó, sem comprometer a mentira que todos juntos conduzem. E, é preciso que se diga, Awkwafina realiza um trabalho de interpretação impressionante: com os olhos quase sempre marejados, evita o olhar da avó para que não transpareça o motivo de sua real tristeza, ao mesmo tempo que lhe invadem as memórias nostálgicas da infância que agora está décadas atrás.
Os demais parentes servirão para denunciar o abismo geracional que existe não apenas entre pais e filhos (ou avôs e netos), mas entre os lugares em que vivem cada um deles, em temas como trabalho, religião, vida, morte, relacionamentos e tecnologias com o "conservador" e o "progressista" surgindo em cena em pequenos instantes, como naquele em que avó e neta discutem a real necessidade de a segunda ter um marido para lhe cuidar. "E o seu marido lhe cuida?", questiona aos risos a jovem. Com ótimos enquadramentos (repare como as pessoas aparecem "diminuídas" em algumas sequências, como na dos discursos durante o casamento, como forma de dar conta de sua devastação emocional), o filme bebe na fonte de clássicos como Era Uma Vez em Tóquio (1953), de Yasujirô Ozu, ao tratar o núcleo familiar e as suas diferenças de pensamento de forma contemplativa e sem muita pressa, apresentando ao espectador uma série de intensas reflexões que podem ser resumidas em frases marcantes como: "a vida não é apenas sobre o que você faz e sim como você faz".
Indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia (Awkwafina) e Melhor Filme em Língua Estrangeira, o filme nos manterá em suspense o tempo todo sobre a escolha da família, mas sem julgamentos sobre ser ela acertada ou não - há ponderações suficientes para entendermos os dois lados como corretos. Com uma série de metáforas sobre pássaros enclausurados e impedidos do voar, a obra ainda reserva para o final a sua melhor surpresa [ALERTA DE SPOILER] na cena em que a família se despede de Nai Nai e esta, ao ver o táxi cada vez mais longe, desaba sutilmente em lágrimas. É uma cena forte, que me fez acreditar que a idosa sabia o tempo todo do estratagema da família em relação a sua saúde e da dor carregada por todos (especialmente pela neta), preferindo preservar esta informação consigo. É uma teoria que pode ser derrubada pela última frase, mas que, para este cinéfilo, dá um tempero a mais para o terço final!
Filmes sobre relações familiares existem aos montes, mas nem todos com o tipo de sutileza e o naturalismo adotados neste The Farewell (The Farewell). É uma obra que te emociona sem forçar e que flui adicionando beleza e doçura em cada frame. Também é uma obra que te diverte, com alguns momentos chegando quase ao humor involuntário. E que te faz pensar sobre as diferenças culturais existentes entre ocidentais e orientais ou mesmo sobre os caminhos que tomamos em nossas vidas. Na trama simplíssima, uma doce senhora já na casa dos 80 anos (a veterana Zhao Shuzhen) é diagnosticada com um câncer terminal. Para que a sua passagem não seja traumática, a família - seus filhos, netos e demais parentes - resolve esconder dela a informação de que está severamente doente. E para que todos os integrantes possam visitá-la sem despertar desconfiança, resolvem forjar o casamento de um neto.
Só que uma parte da família mora nos Estados Unidos há cerca de 25 anos - entre elas a neta de Nai Nai (como a idosa é conhecida), Billi (Awkwafina). Apesar de longe da avó, ela mantém uma relação de proximidade: costumam conversar por telefone, trocar confidências. Billi é uma mulher independente, que se afastou da cultura chinesa ao morar praticamente a vida toda no ocidente: pior, mal fala mandarim, mas se esforçará de maneira enternecedora para estar próxima de sua idosa avó, sem comprometer a mentira que todos juntos conduzem. E, é preciso que se diga, Awkwafina realiza um trabalho de interpretação impressionante: com os olhos quase sempre marejados, evita o olhar da avó para que não transpareça o motivo de sua real tristeza, ao mesmo tempo que lhe invadem as memórias nostálgicas da infância que agora está décadas atrás.
Os demais parentes servirão para denunciar o abismo geracional que existe não apenas entre pais e filhos (ou avôs e netos), mas entre os lugares em que vivem cada um deles, em temas como trabalho, religião, vida, morte, relacionamentos e tecnologias com o "conservador" e o "progressista" surgindo em cena em pequenos instantes, como naquele em que avó e neta discutem a real necessidade de a segunda ter um marido para lhe cuidar. "E o seu marido lhe cuida?", questiona aos risos a jovem. Com ótimos enquadramentos (repare como as pessoas aparecem "diminuídas" em algumas sequências, como na dos discursos durante o casamento, como forma de dar conta de sua devastação emocional), o filme bebe na fonte de clássicos como Era Uma Vez em Tóquio (1953), de Yasujirô Ozu, ao tratar o núcleo familiar e as suas diferenças de pensamento de forma contemplativa e sem muita pressa, apresentando ao espectador uma série de intensas reflexões que podem ser resumidas em frases marcantes como: "a vida não é apenas sobre o que você faz e sim como você faz".
Indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia (Awkwafina) e Melhor Filme em Língua Estrangeira, o filme nos manterá em suspense o tempo todo sobre a escolha da família, mas sem julgamentos sobre ser ela acertada ou não - há ponderações suficientes para entendermos os dois lados como corretos. Com uma série de metáforas sobre pássaros enclausurados e impedidos do voar, a obra ainda reserva para o final a sua melhor surpresa [ALERTA DE SPOILER] na cena em que a família se despede de Nai Nai e esta, ao ver o táxi cada vez mais longe, desaba sutilmente em lágrimas. É uma cena forte, que me fez acreditar que a idosa sabia o tempo todo do estratagema da família em relação a sua saúde e da dor carregada por todos (especialmente pela neta), preferindo preservar esta informação consigo. É uma teoria que pode ser derrubada pela última frase, mas que, para este cinéfilo, dá um tempero a mais para o terço final!
segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
Pérolas da Netflix - Meu Nome É Dolemite (Dolemite Is My Name)
De: Craig Brewer. Com Eddie Murphy, Wesley Snipes, Da'Vine Joy Randolph, Tituss Burgess, Craig Robinsos e Snoop Dogg. Comédia / Drama, EUA, 2019, 118 minutos.
Em uma das tantas cenas divertidas do ótimo Meu Nome É Dolemite (Dolemite Is My Name), um grupo de amigos negros está no cinema para assistir ao clássico A Primeira Página (1974), dirigido por Billy Wilder. Filme de branquelo, feito pra branquelo, com uma trama romântica e uma verborragia classe média, a obra é rechaçada por Rudy Ray Moore (Eddie Murphy) e seus amigos, que dizem não terem entendido nada. Esse sempre foi, na verdade, o grande problema da falta de representatividade: sem se reconhecer em tela, a comunidade negra acabava relegada a papéis secundários, de serviçais ou de submissão a algum patrão branco ou rico. Pois foi no começo dos anos 70, quando surgiu a vertente cinematográfica que ficou conhecida como Blaxploitation, que esse cenário, ao menos em partes, mudou. Os filmes agora eram protagonizados e realizados por atores negros, com o uso de sua linguagem, gírias, hábitos, músicas e figurinos. Havia, finalmente, espaço para que as minorias também se reconhecessem no cinema.
O que esta obra dirigida por Craig Brewer (Ritmo de Um Sonho, 2005) faz é contar uma dessas tantas histórias reais de cinema de guerrilha, feito na raça, com poucos recursos e muita vontade. Rudy (o já citado Murphy, em um de seus melhores papéis na carreira) é um vendedor de discos frustrado, que sonha em subir aos palcos para ser comediante. Depois de algumas tentativas sem muito sucesso, ele vê a sua vida mudar quando passa a ouvir histórias contadas por moradores de rua - cheias de palavrões, de piadas chulas, de rimas controversas. É assim que ele vai criar o cafetão Dolemite, que conquistará a população negra, que se identificará com seu comportamento luxurioso, musical e sinuoso, bem como com suas histórias divertidas. Mesmo quando o mercado lhe disser não - como nas primeiras tentativas de levar seu disco de humor para uma grande gravadora -, o sujeito encontrará maneiras de fazer ecoar a voz da comunidade nas ruas, vendendo seus discos em um mercado "alternativo", qur funcionará dentro de sua própria loja.
A situação se complica um pouco mais quando o protagonista resolve fazer, de fato, o seu próprio filme, na intenção de alcançar um público maior. Empenhando a sua obra para conseguir recursos de investidores, Rudy "aluga" um antigo prédio que já serviu de reduto cultural para a comunidade negra, para rodar ali a sua película. Na paixão. No esforço. Contando com o suporte de alguns estudantes da faculdade de cinema. Com a luz "emprestada" do vizinho. Com força. Na persistência. E na tentativa de converter o amadorismo em uma espécie de ode a uma arte que não apenas pode, como deve ser levada a todos as pessoas. Nesse sentido, meu Nome É Dolemite é também uma grande homenagem àqueles que se esforçam para fazer filmes, sendo impossível não rir e se emocionar com aquele grupo de realizadores que, se não levam muito jeito, acreditam fielmente naquilo que estão produzindo e em seu resultado.
É um filme que pode até ter uma pegada meio autoajuda naquele sentido meio "acredite em você ou na sua força de vontade, de crescer, de fazer acontecer", mas ao final da sessão será praticamente impossível não estar com um sorriso no rosto. O elenco esbanja carisma, não deixando de ser divertido assistir à Titus Burgess (o Titus de Unbreakable Kimmy Schmidt) em um papel mais sério, Snoop Dogg como um presunçoso DJ de rádio ou mesmo o "retorno" de Wesley Snipes na pele de um afetado ator que acredita que venceu na vida (se comparado aos demais). Já o figurino, só não estará entre os indicados na próxima edição do Oscar, se os votantes da Academia estiverem sofrendo algum tipo de colapso visual, o mesmo valendo para a trilha sonora, recheada de hits cheios de suingue de artistas, como, Marvin Gaye, Kool and The Gang e The Commodores. Enfim, é uma obra divertida, leve e otimista, com excelente desenho de produção, e que ainda possui uma mensagem retumbante e altamente relevante - especialmente em uma época em que temos de conviver com figuras racistas e preconceituosas como Trump ou Bolsonaro.
Em uma das tantas cenas divertidas do ótimo Meu Nome É Dolemite (Dolemite Is My Name), um grupo de amigos negros está no cinema para assistir ao clássico A Primeira Página (1974), dirigido por Billy Wilder. Filme de branquelo, feito pra branquelo, com uma trama romântica e uma verborragia classe média, a obra é rechaçada por Rudy Ray Moore (Eddie Murphy) e seus amigos, que dizem não terem entendido nada. Esse sempre foi, na verdade, o grande problema da falta de representatividade: sem se reconhecer em tela, a comunidade negra acabava relegada a papéis secundários, de serviçais ou de submissão a algum patrão branco ou rico. Pois foi no começo dos anos 70, quando surgiu a vertente cinematográfica que ficou conhecida como Blaxploitation, que esse cenário, ao menos em partes, mudou. Os filmes agora eram protagonizados e realizados por atores negros, com o uso de sua linguagem, gírias, hábitos, músicas e figurinos. Havia, finalmente, espaço para que as minorias também se reconhecessem no cinema.
O que esta obra dirigida por Craig Brewer (Ritmo de Um Sonho, 2005) faz é contar uma dessas tantas histórias reais de cinema de guerrilha, feito na raça, com poucos recursos e muita vontade. Rudy (o já citado Murphy, em um de seus melhores papéis na carreira) é um vendedor de discos frustrado, que sonha em subir aos palcos para ser comediante. Depois de algumas tentativas sem muito sucesso, ele vê a sua vida mudar quando passa a ouvir histórias contadas por moradores de rua - cheias de palavrões, de piadas chulas, de rimas controversas. É assim que ele vai criar o cafetão Dolemite, que conquistará a população negra, que se identificará com seu comportamento luxurioso, musical e sinuoso, bem como com suas histórias divertidas. Mesmo quando o mercado lhe disser não - como nas primeiras tentativas de levar seu disco de humor para uma grande gravadora -, o sujeito encontrará maneiras de fazer ecoar a voz da comunidade nas ruas, vendendo seus discos em um mercado "alternativo", qur funcionará dentro de sua própria loja.
A situação se complica um pouco mais quando o protagonista resolve fazer, de fato, o seu próprio filme, na intenção de alcançar um público maior. Empenhando a sua obra para conseguir recursos de investidores, Rudy "aluga" um antigo prédio que já serviu de reduto cultural para a comunidade negra, para rodar ali a sua película. Na paixão. No esforço. Contando com o suporte de alguns estudantes da faculdade de cinema. Com a luz "emprestada" do vizinho. Com força. Na persistência. E na tentativa de converter o amadorismo em uma espécie de ode a uma arte que não apenas pode, como deve ser levada a todos as pessoas. Nesse sentido, meu Nome É Dolemite é também uma grande homenagem àqueles que se esforçam para fazer filmes, sendo impossível não rir e se emocionar com aquele grupo de realizadores que, se não levam muito jeito, acreditam fielmente naquilo que estão produzindo e em seu resultado.
É um filme que pode até ter uma pegada meio autoajuda naquele sentido meio "acredite em você ou na sua força de vontade, de crescer, de fazer acontecer", mas ao final da sessão será praticamente impossível não estar com um sorriso no rosto. O elenco esbanja carisma, não deixando de ser divertido assistir à Titus Burgess (o Titus de Unbreakable Kimmy Schmidt) em um papel mais sério, Snoop Dogg como um presunçoso DJ de rádio ou mesmo o "retorno" de Wesley Snipes na pele de um afetado ator que acredita que venceu na vida (se comparado aos demais). Já o figurino, só não estará entre os indicados na próxima edição do Oscar, se os votantes da Academia estiverem sofrendo algum tipo de colapso visual, o mesmo valendo para a trilha sonora, recheada de hits cheios de suingue de artistas, como, Marvin Gaye, Kool and The Gang e The Commodores. Enfim, é uma obra divertida, leve e otimista, com excelente desenho de produção, e que ainda possui uma mensagem retumbante e altamente relevante - especialmente em uma época em que temos de conviver com figuras racistas e preconceituosas como Trump ou Bolsonaro.
quinta-feira, 12 de dezembro de 2019
25 Grandes Filmes de 2019 Lançados no Cinema ou DVD/Now (+15 menções Honrosas)
Acho que falo isto todos os anos na hora de fazer a relação de grandes filmes, mas não existe lista mais difícil do que essa. E um dos principais motivos é o de que dificilmente conseguimos assistir a tempo a todas aquelas obras que gostaríamos. Por exemplo, muitos de vocês estranharão a ausência de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão - o nosso enviado ao Oscar, mas que ainda não passou pelo nosso "crivo". Bom, existe grande chance de ele figurar na nossa lista do ano que vem e na verdade não há mal nenhum nisso, já que a nossa intenção não é a de fazer uma relação dura, e sim falar de grandes películas que assistimos, gostamos e resenhamos por aqui - na intenção de indicá-las a vocês, que nos acompanham. Também fizemos um esforço para incluir na relação obras das mais variadas nacionalidades (não apenas de Hollywood) e de gêneros - sem esquecer dos nacionais, claro. Bom, chega de conversa fiada. Eis a nossa relação com os 25 Grandes Filmes de 2019 Lançados em DVD/Now (+15 Menções Honrosas). Boa leitura!
Menções Honrosas:
40) Eu Não Sou Uma Bruxa ( I Am Not a Witch)
39) A Tabacaria (Der Trafikant)
38) No Coração da Escuridão (First Reformed)
37) Se a Rua Beale Falasse (If Beale Street Could Talk)
36) Mirai (Mirai)
35) A Favorita (The Favourite)
34) A Odisseia dos Tontos (La Odisea de Los Giles)
33) One Child Nation
32) Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar
31) Green Book: O Guia (Green Book)
30) Privacidade Hackeada (The Great Hack)
29) Dogman (Dogman)
28) Amanda (Amanda)
27) Ad Astra: Rumo às Estrelas (Ad Astra)
26) Boy Erased: Uma Verdade Anulada (Boy Erased)
25) Minha Obra-Prima (Mi Obra Maestra): em sua ainda curta filmografia, o argentino Gastón Duprat se especializou em obras que utilizam a mesquinhez e a afetação do universo das artes como o cínico contraponto para uma Argentina dolorosamente decadente, provinciana e cheia de contrastes. Foi assim com o divertido O Cidadão Ilustre (2017) e é assim neste, em que acompanhamos uma improvável dupla de amigos: de um lado um amargo pintor de nome Nervi, que já foi bem sucedido, mas hoje não consegue vender quadro algum. De outro, o galerista Arturo que tenta valorizar a obra do primeiro, a despeito da personalidade abusadamente presunçosa e prepotente do artista. Após uma tentativa mal sucedida de parceria, o artista sofre um gravíssimo acidente pouco depois da catastrófica vernissage de lançamento de uma peça, que lhe faz perder parte da memória. Repleta de ótimas surpresas, a obra aborda a amizade e ainda discute os limites da arte, em uma narrativa leve, cheia de bons diálogos e que nos diverte e emociona em igual medida. Leia a resenha completa.
24) Temporada: esse é aquele tipo de filme que parece sobre o nada mas que, na verdade, é sobre tudo ao mesmo tempo. Não por ser algum tipo de projeto ambicioso e hiperbólico e sim por apostar na sutileza como forma de abordagem para temas relacionados a diferenças sociais, a solidão e a busca pela felicidade. É o filme sobre o cotidiano. Sobre a vida real. Sobre errar e acertar. Ou sobre deixar o passado para trás para tentar tudo de novo. E novamente. E o pior: em um País que não costuma olhar com carinho para as classes menos favorecidas ou vulneráveis. Na trama acompanhamos a jornada de Juliana (a espetacular Grace Passô) que está se mudando de Itaúna para a periferia de Contagem, para trabalhar como agente de controle da dengue na região. É filme político, sem ser panfletário, sem precisar esfregar nada
na cada. Há, aqui e ali, uma discussão sobre precárias condições de
trabalho, sobre salários baixíssimos,
sobre as dificuldades para que as contas fechem e os sonhos permaneçam. Uma obra sutil, que diz muito. Leia a resenha completa.
23) A Esposa (The Wife): com uma excelente abordagem sobre o machismo existente no universo da literatura - em 115 edições do Prêmio Nobel foram apenas 13 ganhadoras -, esse pequeno achado narra a história de um escritor que será laureado com a já citada distinção, enquanto a esposa permanece como um espectro, à sua sombra. É um trabalho arrebatador da atriz Glenn Close, que foi justamente indicada por encarnar uma mulher que, nas aparências, permanece perplexa e taciturna diante do absurdo do contexto em que vive. Seus olhos parecem comunicar algum tipo de tensão, de desconforto e de incerteza - e não serão poucas as sequências em que este expediente se repetirá, especialmente naqueles momentos em que o homenageado tomará a palavra para mencionar a importância da esposa para a sua vida. "Eu não sou nada sem ela", será uma frase ouvida com frequência. Flashbacks fornecerão preciosas informações sobre essa relação, em uma película cheia de reviravoltas, boas doses de tensão e um final surpreendente. Leia a resenha completa.
22) Atlantique (Atlantics): enviado pelo Senegal para a próxima edição do Oscar, esse filme sensorial começa como um drama convencional sobre relacionamentos e sobre casamentos arranjados para se transformar em um suspense que mistura ficção científica e fantasia, com elementos sobrenaturais, religiosos e até futuristas. Após um grupo de homens se lançar ao mar em busca de melhores condições de trabalho, as mulheres que ficam, entre elas Ada são possuídas por algum tipo de "força" que fará com que coisas estranhas aconteçam no local. Discutindo o papel da mulher, especialmente em sociedades mais conservadoras, a obra de estréia da diretora Mati Diop evoca uma série de sensações para discutir escolhas, liberdade, paixão e permanência da memória afetiva. Repleta de contrastes, de simbolismos e de imagens idílicas (especialmente do mar), a película também faz a crítica social ao demonstrar como famílias podem ser devastadas a partir de frágeis relações trabalhistas e de costumes antiquados. Leia a resenha completa.
21) Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (Midsommar): existem filmes que, muito mais do que um começo, um meio e um fim bem definidos, utilizam a sua narrativa cheia de simbologias para evocar as mais diversas sensações no espectador. Nesse tipo de obra nada é previsível e tudo pode acontecer. É trama mais sensorial do que esquemática, mais incômoda do que lógica. Ao contar a história de um grupo de amigos que vai para a Suécia para participar de uma espécie de festival de verão onde coisas estranhas começam a acontecer, o diretor Ari Aster mergulha de cabeça em temas como fanatismo religioso, diferenças culturais, ritos de passagem, importância do tempo para amenizar as feridas, sensação de pertencimento a um grupo, empatia e insignificância da vida. Nesse sentido, a obra é uma verdadeira colcha de retalhos que nos faz refletir sobre a nossa existência, nossas relações com família e com amigos, sobre comportamento humano (suas fraquezas, anseios e ambições) e também sobre a iminência da morte. Filmaço. Leia a resenha completa.
20) Era Uma Vez em Hollywood (Once Upon a Time In... Hollywood): opinião sobre filme do Tarantino é que nem c*: todo mundo tem a sua. Seja na mesa de bar (pseudo)cinéfila ou em fóruns gloriosos de redes sociais, cada um de nós tem seu pitaco a dar. "É o filme menos Tarantino do diretor", "ele fez uma ode ao cinema", "as referências à cultura do final dos anos 60 conferem um charme a mais", "é cinema mais arrastado e menos violento". Sim, você vai ouvir um pouco de tudo sobre sua mais recente película e tudo tem, sim, um tanto de sentido - a despeito do pedantismo dos fãs do diretor, quando resolvem discorrer sobre sua obra. É, como todos os filmes do Tarantino, um bom filme. Cheio de diálogos divertidos, situações imprevisíveis, metalinguagem e também aquela que tem sido uma de suas marcas, em seu cinema mais recente: subverter a lógica de eventos reais do passado, reimaginando-os em um novo contexto. E isso ele faz de forma avassaladoramente maluca, curiosa, excêntrica, em mais um inspirado trabalho. Leia a resenha completa.
19) Girl (Girl): quando o filme começa e a jovem Lara surge em cena pela primeira vez, jamais temos dúvida de estarmos diante de uma garota: seu sorriso delicado e suas feições suaves são o complemento para uma identidade totalmente feminina. Sim, trata-se de uma mulher que nasceu com corpo de homem mas que, com apenas quinze anos, tem consciência de suas escolhas e do que deseja para sua vida. Apoiada de forma comovente pelo pai, Lara está fazendo um tratamento com hormônios, enquanto aguarda uma cirurgia para readequação de gênero. Sim, não bastassem todos os dilemas, anseios, dúvidas, descobertas e inseguranças da juventude, Lara é uma garota trans em um mundo em que o ódio, o preconceito e a intolerância parecem sempre prontos à vir a tona. Evitando um pouco o clichê da história de superação, a obra olha com carinho para sua protagonista (um trabalho sensacional do ator Victor Polster) que não vê a hora de seu corpo como ela deseja, "acontecer" de uma vez. Uma obra delicada e extremamente naturalista. Leia a resenha completa.
18) Em Trânsito (Transit): só a sutileza com que o diretor Christian Petzold (Phoenix) aborda o avanço do nazismo (ou do fascismo) nos dias de hoje já torna este um filme digno de nota. Para falar de cerceamento da liberdade, de cassação de direitos e de injustiças sociais não há volta no tempo ou trens levando judeus para campos de concentração. A história se passa na modernidade e acompanha um grupo de pessoas que está em fuga de uma França pronta a ser sitiada pelo exército, que pretende iniciar um "trabalho de limpeza" no País. Nesse sentido, Em Trânsito se apresenta como uma distopia daquelas típicas da ficção científica, em que a sociedade decadente e tecnológica, em choque com um passado de opressão, de censura e de medo do diferente. No microcosmo proposto por Pletzold, seria como se o nazismo estivesse para acontecer na atualidade, em uma capital como Paris, motivada por uma política conservadora e ditatorial que se avizinha. Sim, parece que a gente já viu "esse filme" e talvez seja isso o que mais assusta. Leia a resenha completa.
17) O Ano de 1985 (1985): o abismo geracional existente entre filhos com ideias mais progressistas - com mais empatia e mais tolerância -, num contraponto aos pais mais conservadores, representantes das "famílias de bem", que acreditam que bandido bom é bandido morto e que certamente votariam no Bolsonaro, é a matéria-prima para este achado em forma de filme. O jovem publicitário Adrian está retornando para a casa dos pais para passar o Natal. Ao lado do irmão, percebe que não pertence mais àquele lugar ultrapassado, conservador, parado no tempo. Pior: é gay e tem uma terrível notícia para dar aos seus genitores. A trama é simplíssima, mas desenvolvida com elegância, sem pressa. Já a belíssima fotografia em preto e branco, levemente escurecida, acentua o clima de melancolia familiar meio generalizada - todos se espiam pelos cantos, como se estranhos fossem, sendo obrigados a conviver, em uma obra que se encaminha dolorosamente para um desfecho não menos do que comovente. Leia a resenha completa.
16) Deslembro: "aqueles que não conhecem a sua história estão fadados a repeti-la". Adequando a frase atribuída ao teórico político Edmund Burke para o nosso contexto, especialmente se pensarmos na Ditadura Militar, ela soa atualíssima. Nesse sentido, quando nos deparamos com um esforço artístico que, de alguma forma, resgata aquele momento, ele já nasce digno de nota. E é exatamente este o caso dessa obra que nos joga de volta para o final dos anos 70 (no período que em que foi decretada a Lei da Anistia), para contar a história de uma família de exilados, que está voltando para o Brasil. O retorno não será fácil. Há uma sensação generalizada de desconforto, simbolizada pela dificuldade de adaptação da jovem Joana. Hábil, na construção de uma narrativa que sufoca mesmo nas cenas mais prosaicas, a diretora Flávia Castro amplia a sensação de incômodo, com o uso de sons que surgem no formato de sussurros, zumbidos e outros barulhos. Em um grande ano para o nosso cinema, Deslembro não fica para trás. Leia a resenha completa.
15) Divino Amor: a ideia para esse filme é absurdamente original. Nele, a trama viaja para o futuro para imaginar um Brasil do ano de 2027, onde o Estado definitivamente deixou de ser laico, a família tradicional está estabelecida exclusivamente no padrão homem, mulher e filho, a burocracia é galopante e o Governo funciona num misto de opressão religiosa e conservadorismo extremo. Enfim, é o tipo de distopia tão verossímil nesses recém-iniciados anos de Bolsonaro que a sensação, na verdade, é a de que não estarmos necessariamente vendo o futuro e, sim, o presente. No universo concebido pelo diretor Gabriel Mascaro (Boi Neon), a opressão não surge escancarada, mas sim nos hábitos que visam a uniformizar uma sociedade que, consequentemente, perde a sua identidade. Como exemplo, o Carnaval foi agora substituído por um tipo de rave gospel em que fundamentalistas religiosos aguardam pela chegada do Messias - mais ou menos o que o Crivella pretende para o réveillon. A vida, afinal, imita a arte. Leia a resenha completa.
14) Querido Menino (Beautiful Boy): o uso de drogas é um severo problema de saúde pública nos Estados Unidos, sendo algo que, em muitos casos, não se sabe exatamente de onde vem. Ou o que desencadeia esse quadro tão desalentador. Família disfuncional? Pais separados ou ausentes? Jovens que sofrem bullying? Não necessariamente, como nos mostra a história do jovem Nic Sheff (Timothée Chalamet), que protagoniza o filme. Nic é um menino da classe média como qualquer outro: amado pelos pais, tem boas notas na escola, pratica esportes, gosta de música, literatura e artes em geral. Mas se tornará usuário de drogas - inicialmente maconha, mais tarde metanfetamina -, se tornando dependente químico e, consequentemente, alterando a rotina de todos. A obra comove, sendo muitas vezes dura, ao mostrar que mesmo um pai presente, pode não conseguir identificar as suas próprias falhas, na tentativa de acolher o filho. Leia a resenha completa.
13) Rocketman (Rocketman): devo confessar a vocês que não foi nada fácil escrever a resenha sobre esse filme, já que o Elton John é o meu artista do mundo da música preferido. Na trama, como não poderia deixar de ser em uma cinebiografia de uma estrela tão retumbante, estamos diante da clássica história de ascensão e queda. E de ascensão novamente. E de persistência. E de enfrentamento de preconceitos, claro. Em uma época (os anos 60) em que se declarar gay era quase um "crime inafiançável", o astro surge para o mundo da música com suas canções sensíveis mas potentes, reflexivas mas radiofônicas. Os figurinos ousados, festivos, chamativos, surgiriam mais tarde como forma de referendar o seu estilo, em uma obra que recria a época de forma fidedigna e sem endeusar seu biografado: Elton, afinal, a despeito de todo o seu talento, é gente como a gente, com dores, fraquezas, incertezas e anseios. E o filme acerta em cheio ao humanizar uma figura tão magnífica. Leia a resenha completa.
12) Vermelho Sol (Rojo): existe uma frase sobre os "fascistas do futuro" que José Saramago NUNCA disse, mas que é atribuída a ele: "os fascistas do futuro não vão ter o estereótipo de Hitler e Mussolini. Não vão ter aquele jeito de militar durão. Vão ser homens falando tudo aquilo que a maioria quer ouvir. Sobre bondade, família, bons costumes, religião e ética". De certa forma, aquilo que assistimos nessa verdadeira joia do cinema argentino, dialoga com essa sentença. Na trama, uma discussão entre dois homens em um restaurante descamba para uma tragédia que evidencia as tensões de uma Argentina calejada por diversos golpes de estado sequenciais. Há uma tensão no ar que é fruto de algo maior - um tipo de mal-estar político e institucional que escancara as feridas de um Estado de Exceção, colocando o homem contra o próprio homem. Trata-se de uma obra atmosférica, de sutilezas, daquelas que acredita na inteligência do espectador. Leia a resenha completa.
11) Guerra Fria (Zimna Wojna): silenciosa e de grande lirismo, a trama nos joga para o contexto político/social da Polônia no pós Segunda Guerra Mundial, compreendendo um espaço de tempo que vai do ano de 1949 à 1964, mostrando as idas e vindas do músico Wiktor (Tomasz Kot) e da jovem Zula (Joanna Kulig), sua pupila e par romântico. De personalidades opostas - Wiktor é mais sisudo e pragmático ao passo que Zula é sonhadora e intempestiva - ambos se conhecem durante uma espécie de programa de Governo da Polônia comunista que, após o conflito, busca localizar talentos musicais e artísticos com o objetivo de resgatar e repaginar o arcabouço cultural e folclórico do País. Este fato afastará a dupla central que, a cada reencontro, estará mudada - não apenas fisicamente, mas em sua essência (em um trabalho de interpretação formidável, diga-se). O amor nos tempos de guerra afinal de contas não é fácil - e essa obra lírica, bergmaniana e de linda fotografia em preto e branco vem para comprovar isso. Leia a resenha completa.
10) Feliz Como Lazzaro (Lazzaro Felice): este drama italiano disponível na Netflix é cheio de simbologias - o tipo de filme que nos deixa pensativos. E que aposta na sutileza para mostrar que vivemos em um mundo de pessoas corrompidas - pelo poder, pelo dinheiro -, onde a bondade, a gentileza e a empatia dão lugar ao ódio, a intolerância e ao individualismo. Na trama Lazzaro é um garoto pobre, que mora com a sua família em uma fazenda mantida por uma Marquesa. Ele está sempre disposto a ajudar, seja nas tarefas mais pesadas do dia a dia na plantação de tabaco, seja se oferecendo para levar uma xícara de café para alguém. Quando uma fatalidade ocorre, agentes de polícia são atraídos à fazenda, fazendo uma descoberta surpreendente. Ao ir no limite do realismo fantástico para falar sobre a tragédia pós-moderna de um mundo em que o homem definitivamente deu errado, a diretora Alice Rohrwacher constrói uma fábula comovente sobre gratidão e altruísmo como um contraponto a ganância e a mesquinhez. Leia a resenha completa.
9) Democracia em Vertigem: para narrar essa história da derrocada da nossa democracia com a conhecemos, a documentarista Petra Costa traça um paralelo que cruza a sua vida pessoal e de sua família, com os eventos políticos recentes. Tomando como ponto de partida as eleições que culminariam no primeiro governo do presidente Lula, a diretora recorda, com vibrantes imagens de arquivo, desde as manifestações dos metalúrgicos do ABC em 1979 até as conquistas sociais que mercaram os anos petistas, com famílias vulneráveis saindo da linha de pobreza extrema, o desemprego em apenas 4% e a estabilidade econômica. A partir dos protestos de 2013 e dos equívocos econômicos da presidenta Dilma, Petra também esquadrinha os fatores que levaram à ascensão de uma extrema-direita difusa e incendiária, que gestaria Bolsonaro. Com grande riqueza de material e excelente edição, Democracia.. se constitui em um verdadeiro documento de nosso tempo. Fundamental é pouco. Leia a resenha completa.
8) História de Um Casamento (Marriage Story): acho que o que torna este filme tão especial é o fato de, inevitavelmente, olharmos para nós mesmos enquanto acompanhamos o desgastante processo de separação que envolve o casal Nicole (Scarlett Johansson) e Charlie (Adam Driver). Afinal de contas, quem nunca rompeu um relacionamento e teve de lidar com toda a quebra de expectativas, as dúvidas e as frustrações que decorreram dessa experiência? Nesse sentido, a obra de Noah Baumbach (de A Lula e A Baleia e Frances Ha) é um prodígio que trata não apenas o tema, mas as pessoas envolvidas nele - com suas virtudes e imperfeições -, com todo o carinho. Não há lado certo na história. Ambos lutam por aquilo que acreditam ser o melhor. Erram e acertam. São empáticos e egoístas, se atacam e sorriem constrangidos. Tentam proteger o filho e compreendem a importância do outro em suas vidas, o que é comovente. Choram. Assim como nós choraremos. Pelo filme ou por algum relacionamento que terminou inesperadamente, enfim. Leia a resenha completa.
7) Vice (Vice): um filme sobre a vida do vice-presidente do Partido Republicano Dick Cheney desde a sua juventude até os anos de parceria política com George W. Bush seria um convite para um sono "glorioso" se não fosse o diretor Adam McKay. Abusando do deboche, assim como já havia feito em A Grande Aposta, o realizador transforma esta em uma obra leve, dinâmica, repleta de referências à cultura pop, com ótima trilha sonora e outras trucagens. Com uma trama cheia de idas e vindas e um Christian Bale que engordou cerca de 20 quilos para o papel principal, o filme mete o dedo na ferida ao fazer a crítica a um sujeito que, no fim das contas, pensa de forma semelhante ao atual presidente Donald Trump. Figura conservadora, adepta da família e dos bons costumes, Cheney sai de Zé Ninguém no cenário político, até ser figura central em decisões políticas importantes, como as da Guerra ao Terror. Pra quem acha que eleger figuras rotundamente estúpidas para o poder seja especialidade nossa, vale lembrar: não é. Leia a resenha completa.
6) Culpa (Den Skyldige): com pouco mais de 80 minutos, esse valioso suspense dinamarquês é a prova viva de que não são necessárias explosões, efeitos especiais e outras trucagens para a composição de um bom filme. A trama é centrada em um policial que atende ligações de emergência na delegacia em que trabalha. Em meio a pedidos de socorro os mais variados - desde quedas de bicicleta, até relatos de pequenos furtos -, o sujeito recebe uma ligação de uma mulher que, aparentemente, está sendo sequestrada. Ao telefone, ela finge que está falando com a sua filha, como forma de despistar o sequestrador e facilitar a logística que poderá levar a polícia até a autoestrada em que está a van do criminoso. Só que talvez nem tudo seja o que parece, nessa obra que discute o conceito de culpa, bem como o nosso ímpeto natural de ser juiz em causas que não são nossas. Nesse sentido trata-se de um filme completo: tenso, urgente, com ótima interpretação do protagonista e uma resolução surpreendente. Leia a resenha completa.
5) Coringa (Joker): "Sou só eu ou o mundo está ficando mais louco?" Está. Está ficando mais louco. As pessoas estão perturbadas, insanas, descrentes. Estão acoadas lutando para sobreviver e tentando entender o que acontece nesse universo de caos, de violência gratuita, de ódio, de polarização, de indecência política e de banalização (e legitimação) da grosseria, da estupidez e da intolerância. Estão conectadas em aparelhos, mas estão distantes, frias, individualistas. Há uma sensação de isolamento em meio a confusão de tudo que parece nada. Há um futuro incerto. Há dor. Doença. Desamor. Deboche. Dívidas. Depressão. Gatilhos despertados. Assassinato e brutalidade. E essa verdadeira hecatombe fílmica que não parará tão cedo de ser falada, estudada, analisada, se passa no começo dos anos 80, mas dialoga completamente com o tempo em que vivemos, como quem diz: lidem com isso. Sobre o Coringa em si? Joaquin Phoenix nasceu para o papel. E entrega uma caracterização inesquecível e um dos melhores filmes do ano. Leia a resenha completa.
4) Dor e Glória (Dolor y Gloria): vamos dizer que este talvez seja um filme muito mais bonito do que profundo. Mais sensível, mais leve. Menos impactante ou provocativo - como eventualmente ocorre na carreira de Pedro Almodóvar. Mas isso não é nenhum demérito. Olhar com carinho para o passado, fazer um filme com ares autobiográficos, que homenageia o cinema e outras artes, também é afagar o espectador. De vez em quando a gente quer uma película que nos envolva, sem necessariamente nos intrigar de maneira comovente. E esta obra parece fazer isso sem forçar a barra, na base da gentileza, da graça. Continua sendo um legítimo Almodóvar: estão lá o uso de cores vivas e a fotografia saturada, Antonio Banderas e Penélope Cruz interpretando, um roteiro com algum grau de mistério cheio de idas e vindas e, claro, as paixões que não olham cor, gênero, tipo físico ou idade. O tipo de obra perfumada pela experiência, talvez. E que por isso tão bela, tão introspectiva. E que merece este nosso quarto lugar. Leia a resenha completa.
3) O Irlandês (The Irishman): Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino e Harvey Keitel reunidos para um filme um pouco mais contemplativo sobre a máfia, dirigido por Martin Scorsese. Não tinha como dar errado! Obra paradoxal que reflete sobre finitude e sobre o absurdo da morte - afinal de contas, de que adianta uma vida de ambição, de poder e de violência se daqui nada levamos? -, este tour de force de mais de 200 minutos, nos joga na cara o fato de que, ao fim das contas, todos morreremos: doentes, fragilizados, sozinhos. Em última análise, o que nos acompanhará no momento derradeiro de nossas vidas? Entrecortando uma série de eventos, quase como pequenas colagens, a obra se revela como um quebra-cabeças riquíssimo que tem em Frank (De Niro), um simples caminhoneiro que trabalha para um açougue e se torna uma das mais proeminentes figuras da máfia de Chicago, sua figura central. Um monumento cinematográfico bem humorado, melancólico e que deverá fazer bonito na próxima edição do Oscar. Leia a resenha completa.
2) Parasita (Gisaengchung): grande vencedor do Festival de Cannes desse ano, o mais recente filme do diretor Bong Joon-ho (Okja, Expresso do Amanhã), desconstrói o sentido do substantivo/adjetivo que dá nome à obra: quem afinal de contas parasita quem para que a engenhoca capitalista siga funcionando a contento? Na trama, uma família pobre do subúrbio da Coréia do Sul vai aos poucos entrando na vida de outra, burguesa, sem que esta perceba o que está realmente acontecendo. A intenção é a de oferecer a força de trabalho, mas até onde vai a mentira para que esteja assegurada a manutenção do estratagema? Com um elenco carismático, a trama mostra que não há vilões - sendo o Estado o grande culpado por não viabilizar uma sociedade com menos contrastes. Com ótimo (e carismático) elenco, a obra ainda vai no limite do suspense, adotando metáforas - como na inesquecível cena da chuva -, que resumem a intenção geral da película em poucos segundos. Um filmaço que merece ser visto! Leia a resenha completa.
1) Bacurau: seria praticamente impossível a elaboração de qualquer lista de melhores filmes, sem que essa obra-prima do Kleber Mendonça Filho figurasse nas "cabeças". Vencedor do Prêmio do Juri no último Festival de Cannes, o filme é uma bofetada bem dada na cara da elite mesquinha brasileira, do vira-lata, daquele se acha mais importante ou superior que o restante do País, dos que perderam a humanidade e dos que avalizam todo o absurdo que estamos vivendo nesse governo de imbecis desmiolados. Na trama do povoado que se une para enfrentar uma milícia que aposta na barbárie e no esfacelamento da civilização, a história de todos nós, numa alegoria que mistura terror, drama, comédia, ação, faroeste e ficção científica de forma orgânica, fluída. Uma colagem visual de sequências inesquecivelmente do CARALHO, com grande roteiro, diálogos arrebatadores e interpretações magníficas, que dão conta do poder transformador da arte, também como forma de resistir ao autoritarismo. Leia a resenha completa.
E pra vocês? Quais filmes que mereceriam estar nessa lista? Deixem comentários e vamos seguir nesse debate!
E se você curtiu essa relação, confira também as nossas listas de melhores de 2018, 2017, 2016 e 2015.
Menções Honrosas:
40) Eu Não Sou Uma Bruxa ( I Am Not a Witch)
39) A Tabacaria (Der Trafikant)
38) No Coração da Escuridão (First Reformed)
37) Se a Rua Beale Falasse (If Beale Street Could Talk)
36) Mirai (Mirai)
35) A Favorita (The Favourite)
34) A Odisseia dos Tontos (La Odisea de Los Giles)
33) One Child Nation
32) Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar
31) Green Book: O Guia (Green Book)
30) Privacidade Hackeada (The Great Hack)
29) Dogman (Dogman)
28) Amanda (Amanda)
27) Ad Astra: Rumo às Estrelas (Ad Astra)
26) Boy Erased: Uma Verdade Anulada (Boy Erased)
25) Minha Obra-Prima (Mi Obra Maestra): em sua ainda curta filmografia, o argentino Gastón Duprat se especializou em obras que utilizam a mesquinhez e a afetação do universo das artes como o cínico contraponto para uma Argentina dolorosamente decadente, provinciana e cheia de contrastes. Foi assim com o divertido O Cidadão Ilustre (2017) e é assim neste, em que acompanhamos uma improvável dupla de amigos: de um lado um amargo pintor de nome Nervi, que já foi bem sucedido, mas hoje não consegue vender quadro algum. De outro, o galerista Arturo que tenta valorizar a obra do primeiro, a despeito da personalidade abusadamente presunçosa e prepotente do artista. Após uma tentativa mal sucedida de parceria, o artista sofre um gravíssimo acidente pouco depois da catastrófica vernissage de lançamento de uma peça, que lhe faz perder parte da memória. Repleta de ótimas surpresas, a obra aborda a amizade e ainda discute os limites da arte, em uma narrativa leve, cheia de bons diálogos e que nos diverte e emociona em igual medida. Leia a resenha completa.
23) A Esposa (The Wife): com uma excelente abordagem sobre o machismo existente no universo da literatura - em 115 edições do Prêmio Nobel foram apenas 13 ganhadoras -, esse pequeno achado narra a história de um escritor que será laureado com a já citada distinção, enquanto a esposa permanece como um espectro, à sua sombra. É um trabalho arrebatador da atriz Glenn Close, que foi justamente indicada por encarnar uma mulher que, nas aparências, permanece perplexa e taciturna diante do absurdo do contexto em que vive. Seus olhos parecem comunicar algum tipo de tensão, de desconforto e de incerteza - e não serão poucas as sequências em que este expediente se repetirá, especialmente naqueles momentos em que o homenageado tomará a palavra para mencionar a importância da esposa para a sua vida. "Eu não sou nada sem ela", será uma frase ouvida com frequência. Flashbacks fornecerão preciosas informações sobre essa relação, em uma película cheia de reviravoltas, boas doses de tensão e um final surpreendente. Leia a resenha completa.
21) Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (Midsommar): existem filmes que, muito mais do que um começo, um meio e um fim bem definidos, utilizam a sua narrativa cheia de simbologias para evocar as mais diversas sensações no espectador. Nesse tipo de obra nada é previsível e tudo pode acontecer. É trama mais sensorial do que esquemática, mais incômoda do que lógica. Ao contar a história de um grupo de amigos que vai para a Suécia para participar de uma espécie de festival de verão onde coisas estranhas começam a acontecer, o diretor Ari Aster mergulha de cabeça em temas como fanatismo religioso, diferenças culturais, ritos de passagem, importância do tempo para amenizar as feridas, sensação de pertencimento a um grupo, empatia e insignificância da vida. Nesse sentido, a obra é uma verdadeira colcha de retalhos que nos faz refletir sobre a nossa existência, nossas relações com família e com amigos, sobre comportamento humano (suas fraquezas, anseios e ambições) e também sobre a iminência da morte. Filmaço. Leia a resenha completa.
20) Era Uma Vez em Hollywood (Once Upon a Time In... Hollywood): opinião sobre filme do Tarantino é que nem c*: todo mundo tem a sua. Seja na mesa de bar (pseudo)cinéfila ou em fóruns gloriosos de redes sociais, cada um de nós tem seu pitaco a dar. "É o filme menos Tarantino do diretor", "ele fez uma ode ao cinema", "as referências à cultura do final dos anos 60 conferem um charme a mais", "é cinema mais arrastado e menos violento". Sim, você vai ouvir um pouco de tudo sobre sua mais recente película e tudo tem, sim, um tanto de sentido - a despeito do pedantismo dos fãs do diretor, quando resolvem discorrer sobre sua obra. É, como todos os filmes do Tarantino, um bom filme. Cheio de diálogos divertidos, situações imprevisíveis, metalinguagem e também aquela que tem sido uma de suas marcas, em seu cinema mais recente: subverter a lógica de eventos reais do passado, reimaginando-os em um novo contexto. E isso ele faz de forma avassaladoramente maluca, curiosa, excêntrica, em mais um inspirado trabalho. Leia a resenha completa.
18) Em Trânsito (Transit): só a sutileza com que o diretor Christian Petzold (Phoenix) aborda o avanço do nazismo (ou do fascismo) nos dias de hoje já torna este um filme digno de nota. Para falar de cerceamento da liberdade, de cassação de direitos e de injustiças sociais não há volta no tempo ou trens levando judeus para campos de concentração. A história se passa na modernidade e acompanha um grupo de pessoas que está em fuga de uma França pronta a ser sitiada pelo exército, que pretende iniciar um "trabalho de limpeza" no País. Nesse sentido, Em Trânsito se apresenta como uma distopia daquelas típicas da ficção científica, em que a sociedade decadente e tecnológica, em choque com um passado de opressão, de censura e de medo do diferente. No microcosmo proposto por Pletzold, seria como se o nazismo estivesse para acontecer na atualidade, em uma capital como Paris, motivada por uma política conservadora e ditatorial que se avizinha. Sim, parece que a gente já viu "esse filme" e talvez seja isso o que mais assusta. Leia a resenha completa.
17) O Ano de 1985 (1985): o abismo geracional existente entre filhos com ideias mais progressistas - com mais empatia e mais tolerância -, num contraponto aos pais mais conservadores, representantes das "famílias de bem", que acreditam que bandido bom é bandido morto e que certamente votariam no Bolsonaro, é a matéria-prima para este achado em forma de filme. O jovem publicitário Adrian está retornando para a casa dos pais para passar o Natal. Ao lado do irmão, percebe que não pertence mais àquele lugar ultrapassado, conservador, parado no tempo. Pior: é gay e tem uma terrível notícia para dar aos seus genitores. A trama é simplíssima, mas desenvolvida com elegância, sem pressa. Já a belíssima fotografia em preto e branco, levemente escurecida, acentua o clima de melancolia familiar meio generalizada - todos se espiam pelos cantos, como se estranhos fossem, sendo obrigados a conviver, em uma obra que se encaminha dolorosamente para um desfecho não menos do que comovente. Leia a resenha completa.
16) Deslembro: "aqueles que não conhecem a sua história estão fadados a repeti-la". Adequando a frase atribuída ao teórico político Edmund Burke para o nosso contexto, especialmente se pensarmos na Ditadura Militar, ela soa atualíssima. Nesse sentido, quando nos deparamos com um esforço artístico que, de alguma forma, resgata aquele momento, ele já nasce digno de nota. E é exatamente este o caso dessa obra que nos joga de volta para o final dos anos 70 (no período que em que foi decretada a Lei da Anistia), para contar a história de uma família de exilados, que está voltando para o Brasil. O retorno não será fácil. Há uma sensação generalizada de desconforto, simbolizada pela dificuldade de adaptação da jovem Joana. Hábil, na construção de uma narrativa que sufoca mesmo nas cenas mais prosaicas, a diretora Flávia Castro amplia a sensação de incômodo, com o uso de sons que surgem no formato de sussurros, zumbidos e outros barulhos. Em um grande ano para o nosso cinema, Deslembro não fica para trás. Leia a resenha completa.
15) Divino Amor: a ideia para esse filme é absurdamente original. Nele, a trama viaja para o futuro para imaginar um Brasil do ano de 2027, onde o Estado definitivamente deixou de ser laico, a família tradicional está estabelecida exclusivamente no padrão homem, mulher e filho, a burocracia é galopante e o Governo funciona num misto de opressão religiosa e conservadorismo extremo. Enfim, é o tipo de distopia tão verossímil nesses recém-iniciados anos de Bolsonaro que a sensação, na verdade, é a de que não estarmos necessariamente vendo o futuro e, sim, o presente. No universo concebido pelo diretor Gabriel Mascaro (Boi Neon), a opressão não surge escancarada, mas sim nos hábitos que visam a uniformizar uma sociedade que, consequentemente, perde a sua identidade. Como exemplo, o Carnaval foi agora substituído por um tipo de rave gospel em que fundamentalistas religiosos aguardam pela chegada do Messias - mais ou menos o que o Crivella pretende para o réveillon. A vida, afinal, imita a arte. Leia a resenha completa.
14) Querido Menino (Beautiful Boy): o uso de drogas é um severo problema de saúde pública nos Estados Unidos, sendo algo que, em muitos casos, não se sabe exatamente de onde vem. Ou o que desencadeia esse quadro tão desalentador. Família disfuncional? Pais separados ou ausentes? Jovens que sofrem bullying? Não necessariamente, como nos mostra a história do jovem Nic Sheff (Timothée Chalamet), que protagoniza o filme. Nic é um menino da classe média como qualquer outro: amado pelos pais, tem boas notas na escola, pratica esportes, gosta de música, literatura e artes em geral. Mas se tornará usuário de drogas - inicialmente maconha, mais tarde metanfetamina -, se tornando dependente químico e, consequentemente, alterando a rotina de todos. A obra comove, sendo muitas vezes dura, ao mostrar que mesmo um pai presente, pode não conseguir identificar as suas próprias falhas, na tentativa de acolher o filho. Leia a resenha completa.
13) Rocketman (Rocketman): devo confessar a vocês que não foi nada fácil escrever a resenha sobre esse filme, já que o Elton John é o meu artista do mundo da música preferido. Na trama, como não poderia deixar de ser em uma cinebiografia de uma estrela tão retumbante, estamos diante da clássica história de ascensão e queda. E de ascensão novamente. E de persistência. E de enfrentamento de preconceitos, claro. Em uma época (os anos 60) em que se declarar gay era quase um "crime inafiançável", o astro surge para o mundo da música com suas canções sensíveis mas potentes, reflexivas mas radiofônicas. Os figurinos ousados, festivos, chamativos, surgiriam mais tarde como forma de referendar o seu estilo, em uma obra que recria a época de forma fidedigna e sem endeusar seu biografado: Elton, afinal, a despeito de todo o seu talento, é gente como a gente, com dores, fraquezas, incertezas e anseios. E o filme acerta em cheio ao humanizar uma figura tão magnífica. Leia a resenha completa.
12) Vermelho Sol (Rojo): existe uma frase sobre os "fascistas do futuro" que José Saramago NUNCA disse, mas que é atribuída a ele: "os fascistas do futuro não vão ter o estereótipo de Hitler e Mussolini. Não vão ter aquele jeito de militar durão. Vão ser homens falando tudo aquilo que a maioria quer ouvir. Sobre bondade, família, bons costumes, religião e ética". De certa forma, aquilo que assistimos nessa verdadeira joia do cinema argentino, dialoga com essa sentença. Na trama, uma discussão entre dois homens em um restaurante descamba para uma tragédia que evidencia as tensões de uma Argentina calejada por diversos golpes de estado sequenciais. Há uma tensão no ar que é fruto de algo maior - um tipo de mal-estar político e institucional que escancara as feridas de um Estado de Exceção, colocando o homem contra o próprio homem. Trata-se de uma obra atmosférica, de sutilezas, daquelas que acredita na inteligência do espectador. Leia a resenha completa.
11) Guerra Fria (Zimna Wojna): silenciosa e de grande lirismo, a trama nos joga para o contexto político/social da Polônia no pós Segunda Guerra Mundial, compreendendo um espaço de tempo que vai do ano de 1949 à 1964, mostrando as idas e vindas do músico Wiktor (Tomasz Kot) e da jovem Zula (Joanna Kulig), sua pupila e par romântico. De personalidades opostas - Wiktor é mais sisudo e pragmático ao passo que Zula é sonhadora e intempestiva - ambos se conhecem durante uma espécie de programa de Governo da Polônia comunista que, após o conflito, busca localizar talentos musicais e artísticos com o objetivo de resgatar e repaginar o arcabouço cultural e folclórico do País. Este fato afastará a dupla central que, a cada reencontro, estará mudada - não apenas fisicamente, mas em sua essência (em um trabalho de interpretação formidável, diga-se). O amor nos tempos de guerra afinal de contas não é fácil - e essa obra lírica, bergmaniana e de linda fotografia em preto e branco vem para comprovar isso. Leia a resenha completa.
10) Feliz Como Lazzaro (Lazzaro Felice): este drama italiano disponível na Netflix é cheio de simbologias - o tipo de filme que nos deixa pensativos. E que aposta na sutileza para mostrar que vivemos em um mundo de pessoas corrompidas - pelo poder, pelo dinheiro -, onde a bondade, a gentileza e a empatia dão lugar ao ódio, a intolerância e ao individualismo. Na trama Lazzaro é um garoto pobre, que mora com a sua família em uma fazenda mantida por uma Marquesa. Ele está sempre disposto a ajudar, seja nas tarefas mais pesadas do dia a dia na plantação de tabaco, seja se oferecendo para levar uma xícara de café para alguém. Quando uma fatalidade ocorre, agentes de polícia são atraídos à fazenda, fazendo uma descoberta surpreendente. Ao ir no limite do realismo fantástico para falar sobre a tragédia pós-moderna de um mundo em que o homem definitivamente deu errado, a diretora Alice Rohrwacher constrói uma fábula comovente sobre gratidão e altruísmo como um contraponto a ganância e a mesquinhez. Leia a resenha completa.
9) Democracia em Vertigem: para narrar essa história da derrocada da nossa democracia com a conhecemos, a documentarista Petra Costa traça um paralelo que cruza a sua vida pessoal e de sua família, com os eventos políticos recentes. Tomando como ponto de partida as eleições que culminariam no primeiro governo do presidente Lula, a diretora recorda, com vibrantes imagens de arquivo, desde as manifestações dos metalúrgicos do ABC em 1979 até as conquistas sociais que mercaram os anos petistas, com famílias vulneráveis saindo da linha de pobreza extrema, o desemprego em apenas 4% e a estabilidade econômica. A partir dos protestos de 2013 e dos equívocos econômicos da presidenta Dilma, Petra também esquadrinha os fatores que levaram à ascensão de uma extrema-direita difusa e incendiária, que gestaria Bolsonaro. Com grande riqueza de material e excelente edição, Democracia.. se constitui em um verdadeiro documento de nosso tempo. Fundamental é pouco. Leia a resenha completa.
8) História de Um Casamento (Marriage Story): acho que o que torna este filme tão especial é o fato de, inevitavelmente, olharmos para nós mesmos enquanto acompanhamos o desgastante processo de separação que envolve o casal Nicole (Scarlett Johansson) e Charlie (Adam Driver). Afinal de contas, quem nunca rompeu um relacionamento e teve de lidar com toda a quebra de expectativas, as dúvidas e as frustrações que decorreram dessa experiência? Nesse sentido, a obra de Noah Baumbach (de A Lula e A Baleia e Frances Ha) é um prodígio que trata não apenas o tema, mas as pessoas envolvidas nele - com suas virtudes e imperfeições -, com todo o carinho. Não há lado certo na história. Ambos lutam por aquilo que acreditam ser o melhor. Erram e acertam. São empáticos e egoístas, se atacam e sorriem constrangidos. Tentam proteger o filho e compreendem a importância do outro em suas vidas, o que é comovente. Choram. Assim como nós choraremos. Pelo filme ou por algum relacionamento que terminou inesperadamente, enfim. Leia a resenha completa.
7) Vice (Vice): um filme sobre a vida do vice-presidente do Partido Republicano Dick Cheney desde a sua juventude até os anos de parceria política com George W. Bush seria um convite para um sono "glorioso" se não fosse o diretor Adam McKay. Abusando do deboche, assim como já havia feito em A Grande Aposta, o realizador transforma esta em uma obra leve, dinâmica, repleta de referências à cultura pop, com ótima trilha sonora e outras trucagens. Com uma trama cheia de idas e vindas e um Christian Bale que engordou cerca de 20 quilos para o papel principal, o filme mete o dedo na ferida ao fazer a crítica a um sujeito que, no fim das contas, pensa de forma semelhante ao atual presidente Donald Trump. Figura conservadora, adepta da família e dos bons costumes, Cheney sai de Zé Ninguém no cenário político, até ser figura central em decisões políticas importantes, como as da Guerra ao Terror. Pra quem acha que eleger figuras rotundamente estúpidas para o poder seja especialidade nossa, vale lembrar: não é. Leia a resenha completa.
6) Culpa (Den Skyldige): com pouco mais de 80 minutos, esse valioso suspense dinamarquês é a prova viva de que não são necessárias explosões, efeitos especiais e outras trucagens para a composição de um bom filme. A trama é centrada em um policial que atende ligações de emergência na delegacia em que trabalha. Em meio a pedidos de socorro os mais variados - desde quedas de bicicleta, até relatos de pequenos furtos -, o sujeito recebe uma ligação de uma mulher que, aparentemente, está sendo sequestrada. Ao telefone, ela finge que está falando com a sua filha, como forma de despistar o sequestrador e facilitar a logística que poderá levar a polícia até a autoestrada em que está a van do criminoso. Só que talvez nem tudo seja o que parece, nessa obra que discute o conceito de culpa, bem como o nosso ímpeto natural de ser juiz em causas que não são nossas. Nesse sentido trata-se de um filme completo: tenso, urgente, com ótima interpretação do protagonista e uma resolução surpreendente. Leia a resenha completa.
5) Coringa (Joker): "Sou só eu ou o mundo está ficando mais louco?" Está. Está ficando mais louco. As pessoas estão perturbadas, insanas, descrentes. Estão acoadas lutando para sobreviver e tentando entender o que acontece nesse universo de caos, de violência gratuita, de ódio, de polarização, de indecência política e de banalização (e legitimação) da grosseria, da estupidez e da intolerância. Estão conectadas em aparelhos, mas estão distantes, frias, individualistas. Há uma sensação de isolamento em meio a confusão de tudo que parece nada. Há um futuro incerto. Há dor. Doença. Desamor. Deboche. Dívidas. Depressão. Gatilhos despertados. Assassinato e brutalidade. E essa verdadeira hecatombe fílmica que não parará tão cedo de ser falada, estudada, analisada, se passa no começo dos anos 80, mas dialoga completamente com o tempo em que vivemos, como quem diz: lidem com isso. Sobre o Coringa em si? Joaquin Phoenix nasceu para o papel. E entrega uma caracterização inesquecível e um dos melhores filmes do ano. Leia a resenha completa.
4) Dor e Glória (Dolor y Gloria): vamos dizer que este talvez seja um filme muito mais bonito do que profundo. Mais sensível, mais leve. Menos impactante ou provocativo - como eventualmente ocorre na carreira de Pedro Almodóvar. Mas isso não é nenhum demérito. Olhar com carinho para o passado, fazer um filme com ares autobiográficos, que homenageia o cinema e outras artes, também é afagar o espectador. De vez em quando a gente quer uma película que nos envolva, sem necessariamente nos intrigar de maneira comovente. E esta obra parece fazer isso sem forçar a barra, na base da gentileza, da graça. Continua sendo um legítimo Almodóvar: estão lá o uso de cores vivas e a fotografia saturada, Antonio Banderas e Penélope Cruz interpretando, um roteiro com algum grau de mistério cheio de idas e vindas e, claro, as paixões que não olham cor, gênero, tipo físico ou idade. O tipo de obra perfumada pela experiência, talvez. E que por isso tão bela, tão introspectiva. E que merece este nosso quarto lugar. Leia a resenha completa.
3) O Irlandês (The Irishman): Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino e Harvey Keitel reunidos para um filme um pouco mais contemplativo sobre a máfia, dirigido por Martin Scorsese. Não tinha como dar errado! Obra paradoxal que reflete sobre finitude e sobre o absurdo da morte - afinal de contas, de que adianta uma vida de ambição, de poder e de violência se daqui nada levamos? -, este tour de force de mais de 200 minutos, nos joga na cara o fato de que, ao fim das contas, todos morreremos: doentes, fragilizados, sozinhos. Em última análise, o que nos acompanhará no momento derradeiro de nossas vidas? Entrecortando uma série de eventos, quase como pequenas colagens, a obra se revela como um quebra-cabeças riquíssimo que tem em Frank (De Niro), um simples caminhoneiro que trabalha para um açougue e se torna uma das mais proeminentes figuras da máfia de Chicago, sua figura central. Um monumento cinematográfico bem humorado, melancólico e que deverá fazer bonito na próxima edição do Oscar. Leia a resenha completa.
2) Parasita (Gisaengchung): grande vencedor do Festival de Cannes desse ano, o mais recente filme do diretor Bong Joon-ho (Okja, Expresso do Amanhã), desconstrói o sentido do substantivo/adjetivo que dá nome à obra: quem afinal de contas parasita quem para que a engenhoca capitalista siga funcionando a contento? Na trama, uma família pobre do subúrbio da Coréia do Sul vai aos poucos entrando na vida de outra, burguesa, sem que esta perceba o que está realmente acontecendo. A intenção é a de oferecer a força de trabalho, mas até onde vai a mentira para que esteja assegurada a manutenção do estratagema? Com um elenco carismático, a trama mostra que não há vilões - sendo o Estado o grande culpado por não viabilizar uma sociedade com menos contrastes. Com ótimo (e carismático) elenco, a obra ainda vai no limite do suspense, adotando metáforas - como na inesquecível cena da chuva -, que resumem a intenção geral da película em poucos segundos. Um filmaço que merece ser visto! Leia a resenha completa.
1) Bacurau: seria praticamente impossível a elaboração de qualquer lista de melhores filmes, sem que essa obra-prima do Kleber Mendonça Filho figurasse nas "cabeças". Vencedor do Prêmio do Juri no último Festival de Cannes, o filme é uma bofetada bem dada na cara da elite mesquinha brasileira, do vira-lata, daquele se acha mais importante ou superior que o restante do País, dos que perderam a humanidade e dos que avalizam todo o absurdo que estamos vivendo nesse governo de imbecis desmiolados. Na trama do povoado que se une para enfrentar uma milícia que aposta na barbárie e no esfacelamento da civilização, a história de todos nós, numa alegoria que mistura terror, drama, comédia, ação, faroeste e ficção científica de forma orgânica, fluída. Uma colagem visual de sequências inesquecivelmente do CARALHO, com grande roteiro, diálogos arrebatadores e interpretações magníficas, que dão conta do poder transformador da arte, também como forma de resistir ao autoritarismo. Leia a resenha completa.
E pra vocês? Quais filmes que mereceriam estar nessa lista? Deixem comentários e vamos seguir nesse debate!
E se você curtiu essa relação, confira também as nossas listas de melhores de 2018, 2017, 2016 e 2015.
Assinar:
Postagens (Atom)