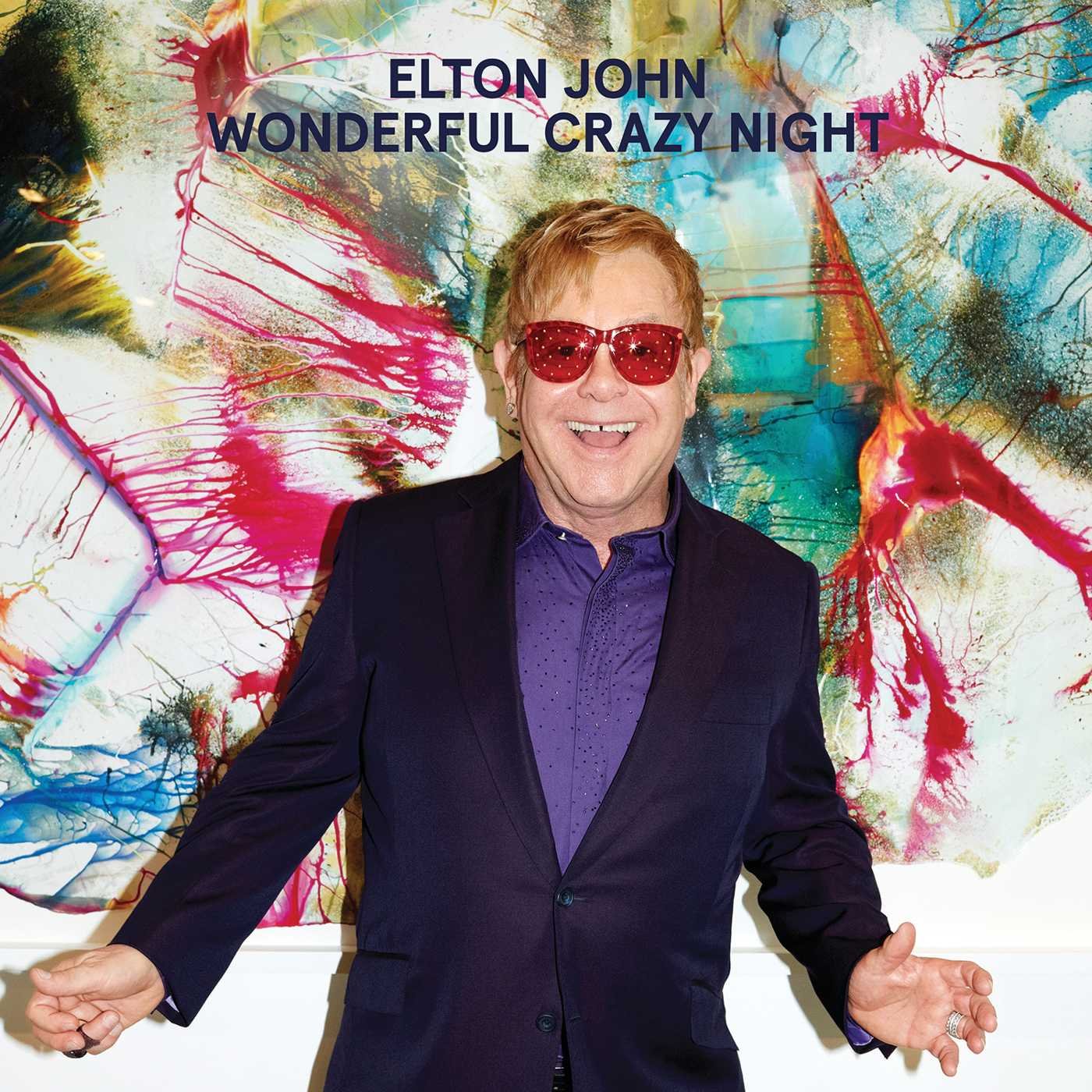We used to be friends
Now when I run into you, I pretend I don't see you
I know that you hate me
I've tried to be tough
I've tried to be mean
I don't want to be like this
And I hope that you listen
All I'm trying to say is
(Laura - Girls)
Quantas audições de uma música ou de um disco são necessárias para que o material te envolva, te capture, te apreenda? Uma? Duas? Dez? É provável que dependa. Dependa da sonoridade, da letra, do refrão. Do momento que estamos vivendo. Se estamos tristes ou alegres. De nossa bagagem cultural e de nossas experiências prévias, sem esquecer de como elas nos afetam. Especialmente quando determinadas áreas de nosso cérebro são tocadas por este ou daquele acorde. Uma canção fácil, extremamente fácil - daquelas que você, eu e todo mundo possamos cantar junto - não necessariamente pode significar algo bom. O mesmo vale para as músicas mais herméticas, rebuscadas, concretas, que podem vir a exigir do ouvinte mais ansioso uma série de exaustivas audições. Que somente muito tempo depois lhe possibilitarão reconhecer as virtudes de determinado artista, bem como seus objetivos por trás de cada obra. Se é que essas virtudes ou objetivos realmente existiram.
A banda californiana Girls nos faz pensar muito sobre isso. E a facilidade com que a dupla - formada por Christopher Owens e Chet "JR" White - consegue alcançar os subterrâneos da nossa memória, com a sua sonoridade em muitos casos ensolarada, harmoniosa, nostálgica, é daqueles casos que merecem estudo. Ouvir um registro como Album (2009), motivo desde Lado B Classe A, é ter a impressão de, o tempo todo, já ter ouvido aquilo antes. Talvez fossem os Beach Boys. Ou mesmo Buddy Holly, Elvis Costello, ou Morrissey. Ou algo que a gente ouviu na época do colégio voltando de carro pra casa, meio desatento. Ou nas madrugadas de insônia, ainda que com poucas preocupações do mundo real. O caso é que já nos deparamos com isso, mas sem nunca ter nos deparado. Uma mágica que fará qualquer ouvinte sorrir - já na primeira audição - a cada pequena peça sonora que se descortina, numa espécie de saudade sabe-se lá de quê (ou de quem) ou mesmo de uma ausência sentida sobre algum lugar em que nunca estivemos, em um verão que não vivemos ou no litoral em que nunca ficamos. Ou será que já ficamos?
É essa capacidade magnética, que torna o Girls uma banda tão impressionante. E, numa espécie de curioso paradoxo, uma dupla com ares refrescantes, inovadores. Daquelas em que se torna praticamente impossível não expressar o amor. Sim, Album pode, por um lado, parecer um registro de alma fácil, daqueles que lhe conduzirão sem percalços por seus caminhos adocicados e curvas perfumadas por um colorido à chiclete de tutti frutti, recheado de woo hoos, sha la las e palminhas. Mas isso de maneira alguma significará estarmos diante de um disco óbvio, cansativo ou repetitivo. Confesso a vocês: desde que descobri a banda, não fico uma semana sem ouvir algum dos seus dois trabalhos - o sucessor de Album, intitulado Father, Son and Holy Ghost (2011), registro que, para muitos veículos é capaz até de ser MELHOR do que o primeiro. Serve, inclusive, para me acalmar, em meio a correrria ou a rotina.
Mas o caso é que, a despeito do magnetismo inicial, o trabalho nunca diminui seu impacto, uma vez que, a cada audição, somos capazes de reconhecer elementos que, antes, não havíamos nos dado por conta. E que, se por um lado complexificam e dão outros contornos a experiência, por outro nos tornam ainda mais íntimos dessa verdadeira expressão artísitca. Laura, segunda canção do disco, é capaz de fazer com que muitos postulantes a músico pensem "Meu Deus, como que nunca pensei em algo assim antes". É uma música direta, simples, com refrão absolutamente grudento, como devem ser, em muitos casos as mais sinceras canções de amor. Quem já viu um pedido de desculpas tão honesto como esse? E por mais melancólica que a letra aparente ser, a sonoridade jamais perde o seu caráter garageiro, de emanações doces e singelas. Escutar com a letra ao lado é sorrir. E cantar junto - como se este fosse um Jota Quest estrangeiro pedindo pra ser descoberto.
Ainda assim, é preciso que se diga que o registro é essencialmente heterogêneo, ainda que jamais se afaste daquele que parece ser o seu fio condutor. Há espaço para a balada romântica com ênfase na percussão bem pontuada (Ghost Mouth), há powerpop com pitadas de rockabilly no sentido mais clássico do termo (Lust for Life), há o final da tarde entrsitecido na beira da praia solitária (Summertime) e há até espaço para o rock'n roll no estilo clássico sessentista (Big Bad Mean Motherfucker). Sem contar o tour de force Hellhole Ratrace, que, com seus quase sete minutos de guitarra e dramaticidade, não deveria fazer feito em nenhuma lista de melhores músicas dos anos 2000. Tudo bem pontuado pela voz de barítono de Owens e seu estilo nerd lacrimoso. No Pitchfork, Album recebeu uma justa nota 9,1 em reconhecimento ao seu potencial devastador no quesito "música de qualidade" - avaliação superada após pela própria banda com Father, Son and Holy Ghost, que recebeu um impressionante 9,3. Já aqui no Picanha, bom, o texto apaixonado acho que deixa claro: é uma das favoritas da casa. A dupla infelizmente, não existe mais. Mas o legado deixado, tal qual um Big Star de nossa geração, este está para sempre no coração dos fãs de boa música. É um registro fundamental.