Confesso que em tempos tão brutos como os que vivemos, revisitar um clássico juvenil como Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso) me fez bem. É um filme açucarado, leve, divertido. Com uma dupla de protagonistas - no caso o menino Totó (Marco Leonardi) e o projecionista de cinema Alfredo (Philippe Noiret) -, que nos comove o tempo inteiro e que nos faz pensar no quão magnífica é essa paixão que nos "alimenta" (e que emana da tela grande). Sim, quem gosta de cinema tem um motivo a mais para já ter assistido à obra-prima de Guiseppe Tornatore mais de um punhado de vezes. Na história de ascensão e queda do cinema que dá nome ao título - localizado em uma Sicília ainda nos anos 50 -, uma verdadeira homenagem à sétima arte, seus astros, estrelas, produtores e diretores, incansáveis no objetivo de entreter o espectador. Aliás, não apenas entreter: fazer pensar, a partir do poder transformador da arte.
O menino Totó (ou Salvatore) é o que cada um de nós já foi na infância: curioso, destemido, incompreendido, sapeca. Logo no começo do filme ele surge na versão adulta, quando recebe uma triste notícia. E será a partir dela que ele rememorará todos os principais episódios de sua juventude, especialmente aqueles que envolvem a amizade com Alfredo. Aliás, uma amizade que se estabelece de forma meio truncada, torta, já que o garoto insiste em "invadir" a sala de projeção, sem necessariamente ter sido convidado. Não por acaso, entre uma ida a escola e outra (onde ele não é o melhor aluno), Totó usa o dinheiro que a sua sofrida mãe lhe dá para pagar contas ou comprar mantimentos para assistir a mais recente película. Em uma enternecedora sequência, Alfredo salva a pele dele, lhe devolvendo de maneira inesperada o dinheiro "perdido". E lhe livrando de uma surra, em um episódio que reafirma a amizade de ambos.
Agrupando sequências divertidas e memoráveis - como a que envolve o padre que censura as cenas de beijo ou aquela em que Alfredo pede cola para Totó na sala de aula -, com outras que devastarão o espectador (como esquecer do acidente que destrói o cinema, tornando Alfredo cego?), o filme fará um salto no tempo para mostrar Salvatore já na vida adulta (Jacques Perrin). Apaixonado por Elena (Agnese Nano) e trabalhando com um novo empresário local de nome Spaccafico (Enzo Cannavale), o rapaz agora moverá mundos e fundos na tentativa de conquistar o seu amor. É o momento em que o filme perde um pouco da sua graciosidade juvenil, para investir no romance brega a moda dos anos 80 - com direito a trilha sonora ultramelosa concebida pelo mestre Ennio Morricone. Mas nem tudo serão rosas e Totó terá de sair de sua terra Natal, em busca de novas oportunidades (para mim, um dos acertos da obra é não centrar a felicidade exclusivamente nas oportunidades do amor).
Ultrapassada em alguns aspectos (o que é a cena da professora SURRANDO um aluno que não sabe a tabuada, com direito a bater a cabeça dele na parede?), romanticamente kitsch em outros (Salvatore espera por 100 dias que a sua amada Elena abra uma janela como demonstração de amor), o filme é uma sucessão de eventos cômicos e trágicos sendo um verdadeiro triunfo que dificilmente não deixará o cinéfilo comovido. E que culminarão no retorno de Salvatore ao seu local de origem, que resultará na inesquecível cena final, que faz com que o homem relembre o seu primeiro encontro com Alfredo. Uma obra sobre o poder da amizade, sobre a força e a paixão provocados pelo cinema. Aliás, não é por acaso que Cinema Paradiso não apenas ganhou o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira na cerimônia de 1990, como costuma figurar em todas as listas de grandes obras da história do cinema. Simplesmente inesquecível.
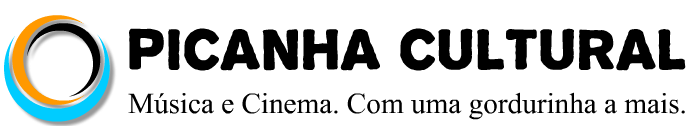










/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/g/b/rYlAmaSJyvuMX5unRxDw/a-noite-amarela-03.jpg)







