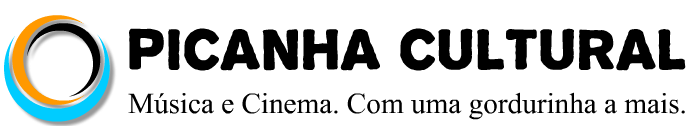Eu não sei qual é o mundo que vai ficar para as próximas gerações, mas confesso a vocês que não ando nada otimista. Guerras, pandemia, desigualdade social. Violência - gratuita em muitos casos. Ódio, preconceito, intolerância. Dificuldade generalizada de convívio em um cenário de globalização e de tecnologia e de diferenças - culturais, religiosas - que jamais são respeitadas. E o belíssimo Em Um Mundo Melhor (Hævnen) consegue quase abarcar todos esses temas, espreitando o microcosmo que envolve duas famílias dinamarquesas, com seus dilemas, anseios e filhos. Aliás, o que estamos, de fato, ensinando aos nossos filhos? Quais as lições que têm ficado? Talvez a diretora Susanne Bier (dos igualmente espetaculares Brother e Depois do Casamento) nem fosse assim tão ambiciosa, mas obras como esta conseguem fazer com que a gente reflita sobre quase tudo que nos rodeia. Sobre como estão as nossas relações. Se há gente doente ou passando fome. Se alguma criança sofre bullying - e qual será o reflexo disso no futuro. É uma obra grande em seus pequenos instantes. Que diz muito mesmo quando nem pareça querer dizer tanto.
Nesse sentido, uma das melhores sequências do filme é também uma das mais surpreendentemente dolorosas. Nela, o médico cirurgião Anton (Mikael Persbrandt) - um pacifista que atua em uma nação africana devastada pela guerra atendendo feridos -, é surpreendido por uma briga envolvendo seu filho de cinco anos e um outro menino da mesma idade, em uma pracinha qualquer da cidade. Quando o pai do outro garoto aparece, Anton é violentamente atacado. Aos gritos de "não encoste no meu filho", o outro sujeito lhe dá dois tapas na cara. Três. Um tipo de ataque imprevisível. Humilhante. Que dá conta de um universo em que falta o diálogo. Em que problemas relacionados à masculinidade frágil são resolvidos de forma estúpida, grosseira, boçal. Como se a vitória pudesse ser de quem agride mais, de quem grita mais. E, em choque por ter sido aviltado por um homem que ele nem conhecia, ele precisará ensinar os seus dois filhos - o outro é o adolescente Elias (Markus Rygaard), que NINGUÉM sairá ganhando com a violência. Ninguém vencerá se agredindo. Mas o mundo é bruto. E, especialmente, pessoas desse tipo são toscas, estúpidas. Sempre prontas a afrontar, como se a conversa para a resolução de conflitos pudesse ser uma iniciativa frágil ou menor.
É como quando ocorre uma briga no trânsito. Aliás, vocês já perceberam como muitos homens são machões no trânsito? E se tiverem uma arma consigo, serão ainda mais. Aliás, esse desejo bélico pelo revólver, essa síndrome da compensação que provavelmente nem Freud explicaria, esse negócio de resolver tudo na porrada, no tapa na cara - no tapa na cara desferido a um desconhecido. Um desconhecido que trabalha auxiliando pessoas pobres em um cenário de guerra que lutam para sobreviver, toda essa mistura que é fruto de um mundo globalizado e conectado que não conversa, é que o torna Em Um Mundo Melhor uma experiência cinematográfica daquelas que dilacera nosso coração. Enquanto Anton está empenhado em seu trabalho humanitário, seu filho Elias é acossado por um bando de valentões da escola apenas por ser mais retraído e ter os dentes mais proeminentes. Só que Elias fará amizade com Christian (William Jøhnk Nielsen), um coleguinha de escola que está revoltado por ter perdido a sua mãe para um câncer (essa doença inútil que não deixou de existir em meio à pandemia). Christian ajudará Elias a dar cabo dos valentões do bullying - usando a violência, de uma forma reprovável. E achará que, TAMBÉM ELE, pode auxiliar o afável Anton a resolver o problema com o valentão do parquinho. Dos dois, três tapas humilhantes, inexplicáveis.
O filme assim nos mostrará, da pior forma possível, com um prenúncio de tragédia anunciada, que a violência nunca será o melhor caminho. Que esta só poderá gerar mais violência. Mais dor. Mais sofrimento. Seja no País africano em que Anton trabalha - contexto em que ele tem de conviver com uma brutal milícia que estupra e dilacera mulheres -, seja no dia a dia, nas ruas, na escola, no trabalho e nas relações sociais. Tornar o mundo um lugar melhor é algo que os olhos azuis de Anton não conseguirão sozinhos. O mundo é bruto e o próprio Anton não é perfeito - há mágoas carregadas por sua ex-mulher Marianne (Tryne Driholm), que nos fazem questionar o comportamento do médico. Suas escolhas. Trata-se de uma obra que, do alto de sua complexidade, faturou não por acaso o Oscar de Filme Estrangeiro na cerimônia de 2011. É um filme, além de tudo, bonito, com sua fotografia granulada (e aconchegante) e bela trilha sonora, que acompanha cada personagem de perto. E que busca exaltar os pequenos e poderosos instantes de leveza, como forma de enfrentar essa crueldade toda - como na bela sequência em que pai e filhos se empenham em empinar uma pipa. Há esperança em meio ao caos. Ou sempre haverá alguém para não devolver um tapa dado. Fica a lição.