Definitivamente elas se saíram muito melhor nesse negócio de lançar discos em 2019 do que eles. Lana Del Rey, FKA Twigs, Solange, Jamila Woods, Angel Olsen e até estreantes como a Billie Ellish, tem feito a festa de quem elabora relações de melhores, figurando nas primeiras posições das listas em diversas publicações mundo afora. No Picanha não foi diferente e não é por acaso que, entre as 25 primeiras posições, 14 são de artistas femininas ou de bandas que possuem uma vocalista. Se a análise contabilizar as menções honrosas, esse número aumenta ainda mais, chegando a um total expressivo de 24 cantoras/compositoras integrando a nossa lista. Mero acaso ou reflexo de um mundo em que o contraponto para as desgraças que vivemos em todas as esferas, ecoa melhor na voz delas, eis a nossa lista com os 25 Melhores Discos Internacionais de 2019, com mais 15 Menções Honrosas. Ainda dá tempo de colocar em dia as audições musicais, antes da virada do ano. Boa leitura!
Menções Honrosas
40) Florist (Emily, Alone)
39) Kaiser Chiefs (Duck)
38) Hot Chip (A Bath Full Of Ecstasy)
37) Purple Mountains (Purple Mountains)
36) Muna (Saves The World)
35) Kaytranada (BUBBA)
34) Jenny Lewis (On The Line)
33) Carly Rae Jepsen (Dedicated)
32) Cigarettes After Sex (Cry)
31) Julia Jacklin (Crushing)
30) (Sandy) Alex G (House Of Sugar)
29) Caroline Polachek (Pang)
28) Big Thief (UFOF)
27) Kim Gordon (No Home Record)
26) Angel Olsen (All Mirrors)
25) Harry Styles (Fine Line): uma das críticas ao trabalho de Styler é o fato de ele "atirar para todo o lado" na hora de fazer a sua música. Bom, quisera eu ter a personalidade para pegar melodias que vão de trilhas sonoras de filmes oitentistas (Golden), pop noventa (Watermelon Sugar) e baladosas invernais Bon Iver wannabe (Fine Line) e folk (Cherry), para dar uma cara toda própria, num registro apaixonado, oxigenado, que deixa cada vez mais para trás os badalados anos de One Direction. Comercial até dizer chega, cada canção funciona bem como peça isolada, tendo também sua funcionalidade no coletivo - e não há nenhum regra que atrele homogeneidade e qualidade na hora de se avaliar um álbum. "Eu acho que nesse álbum houve momentos em que eu estava meio triste, provavelmente alguns dos momentos mais tristes da minha vida, mas ao mesmo tempo, quando eu estava feliz eram os melhores momentos de minha vida. Então, [o álbum] é ambas as coisas. É uma 'linha tênue' (Fine Line, em inglês)", resumiu em entrevista ao programa da Ellen DeGeneres.
24) Black Keys (Let's Rock): se tem algo que permanece inalterado neste nono registro da dupla Dan Auerbach e Patrick Carney é a capacidade de realizar, com toda a qualidade e perseverança do mundo, aquele rockão garageiro, meio alternativo, meio eletrônico, que nos faz abrir um sorriso sem muito esforço. Não, não é a salvação da lavoura - aliás, beeem longe disso (bem longe até de ser um novo El Camino, que segue sendo o do coração). Mas, para um estilo que tem sido sinônimo de música ultrapassada, quadrada, poder ouvir um álbum que ecoa a juventude perdida de algum tempo que não volta mais, misturando o clássico e o moderno em igual medida, nos parece algo para manter a esperança renovada. Pra quem acha que o deboche, após um hiato de cinco anos pode ter se dissipado, vale uma conferida no videoclipe para o single Go, com sua letra divertida sobre a importância das relações humanas (Você está sozinho? / Você está se sentindo com frio? / Encontre sua chama).
23) Thom Yorke (ANIMA): quem acompanha a carreira do Radiohead sabe que a banda não é para toda a hora, lugar ou paladares. À exceção do inferninho dos alternativos, você não vai parar a festinha animada pra colocar uma música dos britânicos, né? Pois para este jornalista, os álbuns de Yorke, seja em carreira solo ou com a sua banda, sempre foram os "discos para ouvir de fone de ouvido". Atualmente, o ANIMA é um dos meu álbuns para a caminhada de começo de noite, onde o lusco fusco do dia que chega ao fim se mistura com o vulto dos prédios e com os carros que avançam, com as batidas hipnóticas, a eletrônica torta, o vocal caudalosamente melancólico e as ambientações fantasmagóricas que emanam do registro funcionando como um contraponto para a urgência de uma vida que nunca para - mesmo em uma cidade pequena como Lajeado. "É o álbum mais sombrio e tenro que Yorke lançou fora do Radiohead, flutuando inquieto pelo espaço entre a turbulência social e o monólogo interno", resumiu o crítico Philip Shernburne do Pitchfork. Concordamos.
22) Fontaines D.C. (Dogrel): vamos combinar que banda que toca um rock mais cru, direto e de qualidade anda sendo artigo quase raro. O estilo virou coisa de tiozão que usa aquela jaqueta de couro cheirando a naftalina e que se orgulha da sua Harley Davidson, que servirá para compensar a ausência de outros atributos. Mas ainda há respiro - especialmente quando surgem para o mundo coletivos como este. Saída de Dublin, a banda respira na fonte do pós-punk mais comercial, misturando a fúria soturna da percussão e do baixo mais embriagados, com as letras agridoces sobre romances tortos em meio a guitarras mais enérgicas. O álbum transpira personalidade e utiliza o deboche e a ironia na abordagem do País de origem, sendo esta a matéria-prima para muitas canções - o que pode ser comprovado pela letra corrosiva de Big (Dublin na chuva é minha / Uma cidade grávida com uma mente católica), que prepara o terreno para Sha Sha Sha, Too Real, Television Screens e outras maravilhas.
21) Sleater-Kinney (The Center Won't Hold): se o trio formado em Olympia já discutia com força e propriedade as questões de gênero, o machismo dominante e o papel da mulher na sociedade nos anos 90 - quando gestou álbuns clássicos como Call The Doctor (1996) e Dig Me Out (1997) -, nos tempos atuais, de tantos retrocessos, a banda de Carrie Brownstein e companhia permanece mais do que relevante. Do retorno em 2015 com o indispensável No Cities To Love até o lançamento deste mais recente registro, apenas uma pequena mudança: a saída da baterista Janet Weiss do grupo, por motivos de "diferenças artísticas". Só o que não mudou foi o peso na sonoridade furiosa do trio, sempre visceral e que, amparado por duas guitarras e uma bateria, fazem a paisagem sonora perfeita para as letras divertidas, confessionais e eventualmente sacanas sobre temas cotidianos os mais variados. Da popice quase agridoce de e Can I Go On ao peso ruidoso de RUINS, o trabalho, tão acessível quanto o anterior, é pura energia.
20) Billie Eilish (When We All Fall Asleep, Where do We Go?): aquele millenial autocomiserativo e melancólico, que fica ouvindo música triste enfurnado em um quarto mal iluminado, finalmente tem um artista para chamar de seu. E, como numa espécie de paradoxo, é justamente o visual soturno da cantora, somado ao aspecto divertidamente sombrio de suas letras e melodias (que vão no limite entre o gótico, o pop e a música eletrônica minimalista) que a torna algo diferente das jovens exibicionistas que insistem em aparecer Instagram afora. Tudo bem que Eilish continua sendo SIM uma adolescente, como atestam letras ferozes (e sensuais) como no caso do megahit Bad Guy (Eu sou do tipo ruim / Do tipo que deixa sua mãe triste / Do tipo que deixa sua namorada brava) . Mas o senso de humor obscuro, que brinca com a ideia de pesadelos prontos a acontecer - como sugere o nome e a capa do álbum -, ronda cada curva desse hipnótico registro de estreia.
19) Ariana Grande (thank u, next): foi no primeiro semestre desse ano que Ariana Grande chorou em meio à uma entrevista para a revista Vogue, ao falar das canções que integram este seu quinto álbum de estúdio. Extremamente confessionais, as letras contidas no registro servem, também, como forma de expiar a dor pela morte do ex-namorado, o rapper Mac Miller, que foi vítima de uma overdose acidental no ano passado. "É difícil cantar músicas que são sobre feridas tão recentes. É divertido, é música pop, e eu não estou tentando fazer parecer que não é, mas essas músicas para mim realmente representam coisas pesadas", alegou na época. Não é difícil entender, portanto, este registro como parte de um doloroso processo de amadurecimento, com canções como imagine, fake smile, bloodline e 7 rings (assim mesmo, com letras minúsculas), servindo como a trilha sonora oficial para a superação do trauma - que deixa a garotinha vista em séries como Sam & Cat definitivamente para trás.
18) Tyler, The Creator (IGOR): confesso a vocês que já estava arrebatado pela primeira metade deste registro, quando cheguei na canção A Boy Is a Gun, música que abre o "lado B" do álbum. Com melodia envolvente, perfumada por entalhes coloridos e nostalgicamente enfumaçados - que remetem a propagandas de TV de alguma década que não sabemos qual -, a canção traz como contraponto, uma letra nervosa e metafórica sobre o uso de armas e sobre violência doméstica. Em 2017, com o delicioso Flower Boy, Tyler já tinha utilizado expediente semelhante, com melodias que parecem sonhos oníricos em meio a canções de ninar, que se misturam com a urgência e a violência das ruas, a vida noturna e urbana e os relacionamentos temperados por descobertas, crises e separações. Com uma estética que remete ao Frankenstein - o Igor surge numa versão cosmopolita na capa -, o trabalho consolida Tyler como um dos principais nomes do rap na atualidade, ao lado de Kendrick Lamar e Frank Ocean - este último, por sinal, com estética bastante semelhante.
17) Brittany Howard (Jaime): ainda que aqui e ali o perfume do Alabama Shakes persista em aparecer no primeiro registro solo de sua vocalista, é preciso que se diga que este é um trabalho cheio de personalidade, com Howard cantando cada canção não apenas com a voz, mas com o corpo todo, com a alma, com grunhidos e suspiros que remetem a uma infância difícil, dolorosa, em um sul dos Estados Unidos totalmente racista. A Jaime que dá nome ao disco é a irmã da artista e ainda que o álbum não seja necessariamente sobre ela, parece haver nele uma familiaridade que centraliza o disco num espectro mais familiar. Com letras sobre relacionamentos conturbados (History Repeats) se revezando com outras de cunho mais político (13th Century Metal), Howard constrói a sua colcha de retalhos particular, desnovelando seus próprios sentimentos numa mistura crua e explosiva de jazz, soul, música eletrônica e rock, claro!
16) Weyes Blood (Titanic Rising): bem menos hermético do que o trabalho anterior - o psicodelicamente espacial Front Row Seat to Earth (2016) -, o mais recente registro de Natalie Mering finalmente faz um aceno ao pop. Sim, agora é possível cantar o refrão, enquanto viajamos nas paisagens etéreas de suas melodias que sinalizam para as grandes orquestrações, em meio a barulhos e efeitos bem mais organizados, que servem de base para o seu vocal marcante. O disco mistura de tudo um pouco, indo da dramaticidade do piano na abertura A Lot's Gonna Change, passando pela setentista Everyday até chegar no soft rock multicolorido de Wildtime. Claramente influenciada pelo cinema - uma grande paixão, como já admitiu em diversas entrevistas e que é simbolizado pela metafórica Movie, presente neste álbum -, Mering utiliza as suas composições ora nostálgicas ora futuristas, como ferramenta para a discussão não apenas de relacionamentos, mas também de temas como mudanças climáticas e uso da tecnologia.
15) Bon Iver (i,i): arranjos delicados que se mesclam a ambientações eletrônicas e a um vocal que parece "grudado" às melodias invernais, ainda que aconchegantes. Desde sempre o trabalho de Justin Vernon como Bon Iver foi assim, ainda que a aproximação com os sintetizadores tenha se ampliado na experiência um tanto mais hermética de seu disco anterior - o ótimo 22, A Million, o nosso sexto colocado entre os melhores de 2016. Em i,i, o padrão se mantém, com cada composição sendo apresentada como um fragmento levemente caótico, que retira um pouco da melancolia doce dos primeiros trabalhos, para apostar em um folk mais desordenado. Ainda assim, a impressão que se tem é a de que Vernon "limpou" as arestas daquilo que foi testado no trabalho anterior, abrindo espaço para composições um pouco mais leves, com direito até mesmo a refrão - como comprova a graciosa Hey, Ma (Durante todo o tempo você fala do seu dinheiro / Enquanto vive em uma mina de carvão / Ainda está em tempo, ligue para sua mãe / Ei, mãe, ei, mãe).
14) The National (I Am Easy To Find): o The National é aquela banda garantida, que até disco mais ou menos é bom e que tem cadeira cativa na nossa lista de melhores. Neste oitavo trabalho de estúdio, a impressão que temos é a de que os americanos optaram por um retorno àquilo que eles sabem fazer como ninguém: um rock soturno, eventualmente minimalista e repleto de divagações do homem moderno e de filosofias bebadamente românticas. Se o trabalho anterior, Sleep Well Beast (2017), apostava em uma sonoridade mais barulhenta, invocando elementos eletrônicos em meio as guitarras raivosas e o vocal "final de tarde chuvoso" de Matt Berninger, agora há um pouco menos de expansão, um aceno para o recolhimento e para as melodias que fazem lembrar o melhor disco do coletivo, até hoje: o incensado Boxer (2017). Talvez o registro assuste um pouco pelos seus 63 minutos de duração (e 16 faixas), mas quem se arriscar em faixas como Quiet Light, Oblivions e Rylan, por exemplo, se sentirá recompensado.
13) Solange (When I Get Home): pode causar um certo estranhamento ao ouvinte mais desavisado o estilo meio "picado" do quarto álbum da mais nova das irmãs Knowles. Aqui, diferentemente da poética mais direta do ótimo A Seat At The Table - nosso primeiro colocado na lista de melhores de 2016 -, as 19 músicas se espalham em 38 minutos entrecortados por vinhetas e trechos curtos onde a repetição de versos e de ideias sobre empoderamento feminino, histórias familiares e orgulho negro, é a matéria-prima para um trabalho que funciona como uma homenagem à sua Houston natal - seus lugares, cheiros e cores reais ou imaginárias. Mesmo com esse temperamento, o registro não deixa de celebrar a música, seus estilos e personagens, indo do abstrato (Things I Imagined) ao real (Stay Flo), em questão de segundos. Tão excêntrico quanto belo, o álbum mistura jazz, eletrônica e hip hop, formando um conjunto espiritualmente coeso e rico. Difícil de resistir.
12) Jimmy Eat World (Surviving): veteranos do emo norte americano, o Jimmy Eat World foi lapidando seu som a medida em que foi ganhando mais experiência (velhice, na real) e deixando o chororô das bandas do estilo um pouco mais de lado. Em seu mais recente trabalho, há um surpreendente retorno à intensidade guitarreira de discos como Bleed American (do sucesso The Middle). Bateria pulsante e um peso praticamente sem precedentes na discografia da banda nos entrega um álbum vigoroso, mas sem perder mão de hits como All the Way (Stay), que lembra grandes sucessos do passado - e surpreende ao trazer um solo de saxofone, algo até então inédito. Mas é nas faixas mais "diferentes" que a banda demonstra evolução e nos entrega duas das melhores canções do ano: enquanto Delivery toca direto ao coração com sua melancolia agridoce é na fantástica (e sintetizada) 555 que os americanos conseguem subir um nível ainda maior na já tão celebrada carreira musical. Um disco curto e para se ouvir no repeat dezenas de vezes.
11) Jamila Woods (LEGACY! LEGACY!): Erykah Badu, Nina Simone, Tracy Chapman, Macy Gray e, agora, Jamila Woods. Não foram poucas as cantoras e compositoras que utilizaram a sua arte como veículo para o ativismo ou para chamar a atenção para assuntos relevantes da atualidade - como feminismo negro e amor próprio. Não é por acaso que a cantora nomeia cada uma de suas canções, com o nome de ícones negros históricos da literatura, da música e de outras artes, que funcionam como se fossem "guias espirituais", que se empenharão em levar adiante - assim como já fizeram em seu tempo -, mensagens de consciência e de respeito às diferenças. Frida, por exemplo, é pura paixão no "debate" sobre o respeito à individualidade (Eu gosto mais de você quando nos vemos menos / Eu gosto mais de mim quando não estou tão estressada / Nós poderíamos fazer isso como Frida), tornando a arte surrealista da pintora mexicana palpável. Este é apenas um exemplo, num registro que é um espetáculo que merece ser degustado com calma.
10) Sharon Van Etten (Remind Me Tomorrow): o processo autocomiserativo de compartilhamento da dor é o que torna a audição de qualquer registro dessa americana como algo próximo da intimidade do ouvinte. Afinal de contas, quem nunca sofreu por amor? Quem nunca quis arrancar o seu coração, as suas vísceras e tudo o mais de dentro do peito para jogar pela janela, como forma de tentar cessas as tristezas? Quinto trabalho de estúdio da artista, Remind Me Tomorrow dá continuidade ao clima melancolicamente soturno do anterior Are We There (2014), com uma coleção de canções tão liricamente doloridas, quanto lindas. Com uma voz capaz de se agregar as melodias, formando uma espécie de "colagem de uma coisa só", Sharon alcança a maturidade com sua poética de versos atormentados, que podem ser resumidos em letras como a de No One's Easy To Love (Desejo meu amor, saio com o amanhecer / Agindo como se toda a dor do mundo fosse culpa minha).
9) Michael Kiwanuka (KIWANUKA): a melancolia introspectiva do trabalho anterior Love & Hate (2016) - que deu ao mundo o hits Cold Little Heart e a própria Love & Hate -, dá lugar a um álbum mais amplo, mais aberto e com mais experimentações neste KIWANUKA. Nesse sentido, o britânico parece ainda mais à vontade para trafegar com naturalidade em meio a estilos e ambientações, imprimindo e sua personalidade a cada canção - seja ela uma balada sobre romances que se desfazem (Piano Joint - This Kind Of Love) seja uma canção mais urbana, enérgica e roqueira a respeito de violência urbana (Rolling). "O último álbum veio de um lugar introspectivo e parecia terapia, eu acho. Este é mais sobre se sentir confortável a respeito de quem eu sou e perguntar o que eu quero dizer. [...] É um álbum que explora o que significa ser um ser humano hoje", afirmou ao semanário New Musical Express. Kiwanuka se desafiou. E entregou seu melhor disco até hoje.
8) FKA Twigs (MAGDALENE): acho que a FKA Twigs é um daqueles casos da música moderna em que a artista se expressa num misto de alma com entranhas. É poesia e melodia se juntando e vindo de dentro, das profundezas de algum lugar em que beleza e dor se encontram para formar maravilhas como a canção Cellophane, que, com sua letra sobre interferências externas que impedem a consolidação de um relacionamento (Eles estão esperando / Eles estão assistindo / Eles estão nos observando / Eles estão odiando), se tornou certamente a melhor música de 2019. Assim como no igualmente belo LP1 (2014), a britânica faz uma mistura absolutamente sedutora de trip hop, R&B e música eletrônica em que emanações mais gélidas, se confundem com batidas secas e efeitos variados, com o vocal sussurrado, que formando a base para canções elegíacas como Thousand Eyes e Mirrored Heart - além da já citada Cellophane, claro.
7) Bedouine (Bird Songs Of a Killjoy): ouvir este álbum é mais ou menos como assistir a um filme intimista, de baixo orçamento, mas que nos arrebata sem firulas, nos assombra na sutileza, sem abuso de grandes efeitos especiais. Utilizando a voz e o violão como a base para tudo, essa artista que nasceu em Aleppo, na Síria, é puro coração nas suas narrativas metaforicamente bucólicas, que utilizam figuras como o cavalo que precisa de um portão para deixar o pasto ou do pássaro que sai da gaiola, para evocar sentimentos diversos em relacionamentos conturbados (ou não). Na delicada One More Time, por exemplo, a figura de linguagem é o mar: Eu sou apenas a praia você é apenas as ondas / Você vai rolar a cada poucos dias / Tentarei traçar linhas na terra / Mas você lavará a areia. É música com alma, cheia de efeitos bem colocados que reforçam o clima iluminadamente pastoril de obras-primas como Under The Night ou Matters Of The Heart.
6) Local Natives (Violet Street): está aí uma banda que as pessoas não costumam dar muita bola, que dificilmente aparece nas listas de melhores, mas que é agradabilíssima de se ouvir. Recheada de melodias adocicadas e emanações folk - à moda de um Fleet Foxes, se tal grupo tivesse tomado uma "chuveirada de música pop" -, esse é aquele disco que aconchega o ouvinte, convidando-o para uma audição minuciosa, sem pressa. Existe qualquer coisa de confortável nas canções econômicas, cantadas sem excessos, ainda que a maioria das letras discuta relacionamentos que, se ainda não terminaram, estão caminhando para isso - como no caso da autoexplicativa (e ótima) When Am I Gonna Lose You (Espere, quando vou te perder? / Como vou deixar você escapar? / Descuidado ou indelicado?). Pode até soar eventualmente triste ou melancólico em algum momento, mas verdadeiras gemas como Café Amarillo, Megaton Mile e Shy mostram que ainda há espaço para um sorriso, em meio as ensolaradas praias da Califórnia.
5) Lana Del Rey (Norman Fucking Rockwell): quem acompanha o Picanha sabe que a gente sempre gostou da Laninha (nosso apelido carinhoso com ela) e a impressão que temos é de que ela melhora a cada registro. Em seu quinto álbum de estúdio, o estilo retrô/enfumaçado/romântico/lânguido permanece o mesmo de seus trabalhos anteriores - com o ápice alcançado no disco Lust For Life, não por acaso o nosso terceiro na relação de grandes álbuns de 2017. No novo trabalho, uma elegância elevada, evocativa, que desconstrói o "sonho americano" já no seu título (Rockwell foi retratista de presidentes americanos como Richard Nixon), enquanto Lana sussurra seus versos de forma provocativa, fragmentada. Há espaço para o pop, como comprovam as candidatas a hit California e a irônica Next Best American Record. Mas o álbum é mais do que isso, e quem tiver a paciência de encarar os seus mais de 60 minutos com as letras a tiracolo, se surpreenderá ainda com o refino de seus versos - ao mesmo tempo autoindulgentes e sarcásticos. Vale cada segundo.
4) Vampire Weekend (Father Of The Bride): eu sou meio suspeito em falar da banda de Ezra Koenig e companhia por que, por ser uma das preferidas, pra mim o efeito é meio parecido com o daquele meme do "Vampire Weekend: a", eu: "melhor disco do ano!". Mais ou menos como aquele caso do nem ouvi já gostei, por que, vamos combinar, a gente sabe que vai vir coisa boa. Saindo do hiato que já durava seis anos desde Modern Vampires Of The City - talvez um dos melhores álbuns do milênio -, o trio retorna com uma longa coleção de canções harmoniosamente alegres, pontuadas pela mescla mais perfeita de música clássica, latinidade, ritmos africanos (a percussão, SEMPRE) e um pop que vai no limite entre o punkzinho shoegaze e o alternativo capaz de beber na fonte das melodias mais comerciais. Intelectuais e divertidos, seguem matadores nas letras debochadas, como comprova o megahit This Life (Querida, eu sei que a dor é tão natural quanto a chuva / Eu só pensei que não chovia na Califórnia). Sério, como não amar isso?
3) Taylor Swift (Lover): disparado o melhor disco da carreira da artista, Lover é a conversão perfeita dos white people problems adolescentes em verdadeiras gemas pop. Extremamente bem produzido, repleto de camadas, efeitos, batidas e sintetizadores que, organicamente, funcionam para evidenciar o vocal em plena forma da cantora, o álbum é um desfile de grandes canções, que mesclam momentos mais etéreos (Cruel Summer), com pop sofisticado (Cornelia Street, uma das melhores canções internacionais do ano), roquinho movimentado (Paper Rings) e até hip hop (London Boy). De quebra, as letras são maduras, graciosas, deixando ainda mais para trás aquela garota sofrenilda, esquisitinha, que, empunhando um violão, se esforçava para exorcizar os dramas dos relacionamentos juvenis fracassados em uma existência vazia e de pouca experiência aos 17 anos. No sétimo disco, Taylor já alcançou os 30 e sua persona arejada, confiante, é muito mais interessante.
2) Lizzo (Cuz I Love You): Ponha a culpa na minha suculência, querido / Não é minha culpa que eu estou aqui chamando atenção / Na fila do pão eu sou o sonho (o sonho na fila do pão) / Ponha a culpa na minha suculência (culpe minha suculência). Negra, obesa e de origem humilde, Lizzo é um daqueles casos em que as canções ignoram o status quo e emanam autoestima, positividade e amor próprio por todos os seus poros. Em um momento em que tanto se fala em representatividade, ver uma artista que desafia os padrões estéticos e exibe com orgulho a sua "suculência", tornando o empoderamento a sua principal matéria-prima, é algo digno de nota. Mas nesse caso não é só comportamento: é música boa, leve, divertida, dançante e sem vergonha, em um álbum cheio de letras sacanas sobre homens que não amadurecem e mulheres independentes. Tendo o hip hop como peça central, Lizzo faz um mergulho em estilos variados como o soul (Jerome), o jazz (Lingerie), o rap (Soulmate) e o funk (Juice, a letra que abre esse textinho).
1) Big Thief (Two Hands): como nos grandes discos que conseguem captar a atmosfera do local onde a banda se encontra, neste álbum vemos uma banda em plena capacidade de execução e expressão dos sentimentos. Ao optar por um som cru sem muitas aparas e imperceptíveis overdubs, a sensação é a de estarmos assistindo ao ensaio do coletivo de dentro do estúdio. E é aí que a mágica acontece de verdade! Bateria, baixo, violão, guitarra, o vocal peculiar de Adrianne Lenker... são fatores a princípio pequenos mas que em conjunto resultam em algo difícil de explicar em palavras. Se no álbum anterior - o igualmente incensado UFOF, lançado também neste ano -, os sons nos remetiam a uma certa estranheza, como se estivéssemos em um lugar desconhecido, é no clima de familiaridade que somos acolhidos neste maravilhoso registro. E sabemos que a simplicidade requer muito trabalho para ser atingida - algo que gemas como The Toy, Not, Shoulders e Those Girls, conseguem com maestria.
Sim, a gente tem certeza de que faltou muito disco legal nessa relação, mas vocês podem nos ajudar a completá-la! E se vocês curtem listas, não deixem de conferir as nossas com os melhores discos internacionais dos anos de 2018, 2017, 2016 e 2015. Vale recordar!



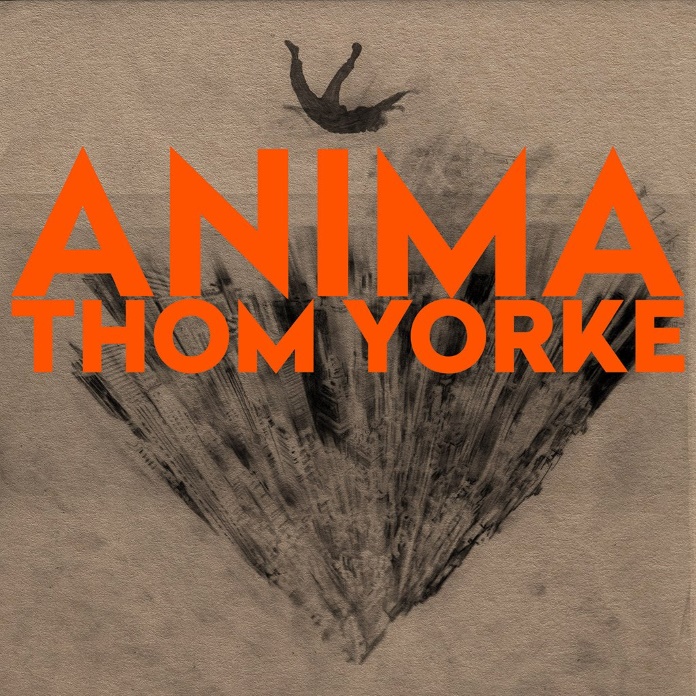






















Nenhum comentário:
Postar um comentário