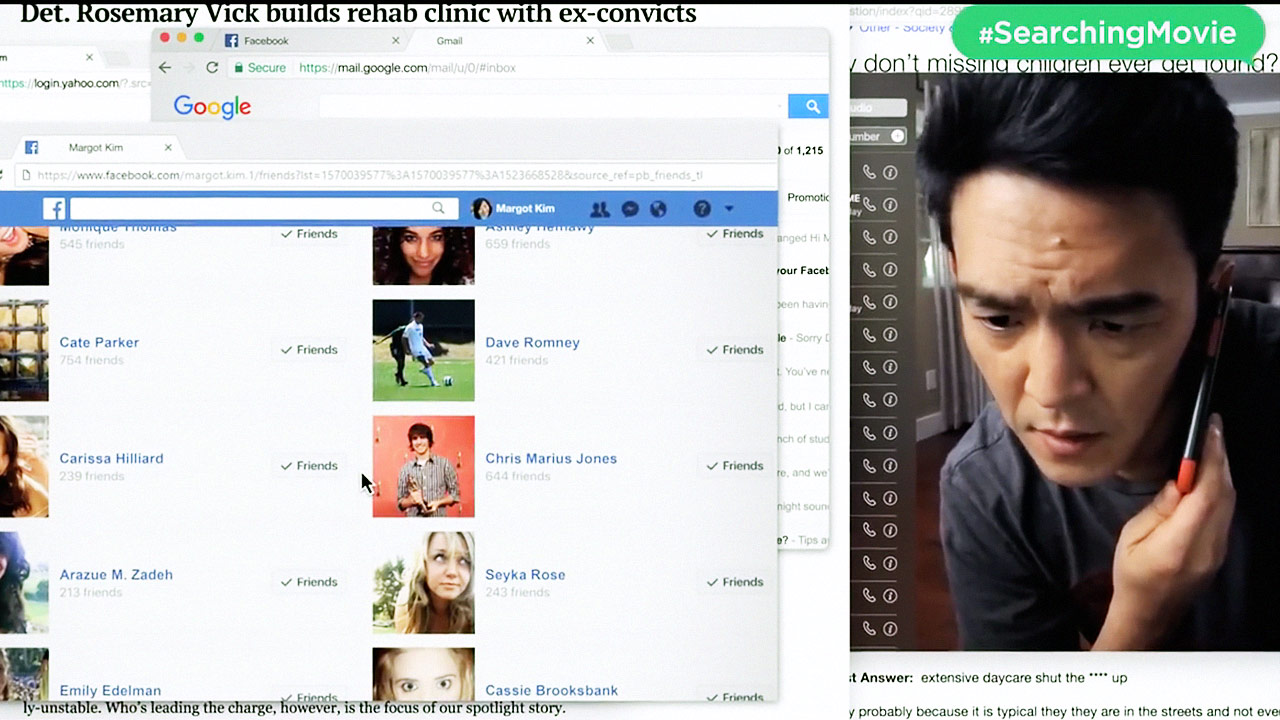Eu sempre achei que filme em stop motion deveria ser "isento de crítica". Sim, por que tentem imaginar vocês a trabalheira que deve dar para fotografar mais ou menos uns três trilhões de quadros para, depois, juntar cada frame um no outro, com a intenção de transformar isso em uma obra de uma hora e meia. Com sentido. Com detalhamento. Com lógica. Só a ideia de uma película com essa técnica, já concede na ARRANCADA a aprovação pro material. Bom, o Estúdio Laika, pródigo na produção de filmes nesse padrão - é dele os ótimos (e sombrios) Coraline (2009) e Paranorman (2012) , é a desenvolvedora deste Link Perdido (Missing Link) que faturou o Globo de Ouro em sua categoria, deixando para trás as duas grandes obras da Disney (Frozen 2 e Toy Story 4). Para muitos uma surpresa, especialmente pelo fato de a recepção da crítica ter sido meio morna e a bilheteria não ter empolgado tanto assim.
Bom, a gente sabe que o Globo de Ouro não é lá muito padrão pra alguma coisa, mas Link Perdido tem alguns méritos, especialmente no que diz respeito ao sempre relevante debate sobre respeito às diferenças. Na jornada do herói, o investigador de mitos e monstros Lionel Frost (Hugh Jackman), também é possível reconhecer o amadurecimento de quem, nunca tardiamente, percebe as suas falhas, comprometendo-se a melhorar como ser humano. São mensagens simples, quase prosaicas mas que, embaladas em uma animação simpática e de fácil compreensão, certamente se encaixarão direitinho para o público ao qual se destina o filme (crianças de 11 ou 12 anos). Para os adultos uma oportunidade de se maravilhar com uma animação que atinge o padrão de excelência no stop motion - que começou láááá atrás, com A Fuga das Galinhas (1995) -, que faz uma mescla com computação gráfica, que torna o resultado soberbo. E há ainda um ou outra piadoca mais "sapeca".
Na trama, como já citado, Jackman é o investigador de mitos que não é levado a sério pelos seus pares. Existe um grupo exclusivo - meio que uma maçonaria de grandes caçadores de monstros -, da qual Frost deseja fazer parte a todo o custo. A oportunidade de ouro surge quando o próprio Pé Grande (Zach Galifianakis) em "pessoa", lhe manda uma carta. Sem saber, o protagonista se envolverá em uma grande aventura que lhe levará até Katmandu, no Nepal, na tentativa de encontrar o Abominável Homem das Neves - que o Sasquatch acredita que possa ser um tipo de "parente distante" (ele está só, afinal). Claro que é tudo desculpa para que tenha início uma série de perseguições de rivais com interesses escusos - entre eles um caçador de recompensas (Timothy Oliphant) e de uma série de situações divertidas na tentativa de chegar ao destino. Na jornada, se juntará ainda a ex-aventureira Adelina (Zoe Saldana).
É uma boa animação? É. Vai mudar o mundo? Não, definitivamente não vai. Especialmente pelo fato de faltar um pouquinho mais de profundidade para os temas importantes que são abordados apenas de passagem - e, talvez nesse quesito, as obras da Pixar estejam realmente nos deixando mal acostumados. Ainda assim, as cenas de ação são realmente tensas e bem construídas - consegui ficar verdadeiramente apreensivo em uma sequência envolvendo a possível queda dos personagens de uma ponte muito alta no terço final! Tudo isto não foi suficiente para uma vitória em sua categoria na noite do Oscar (o ganhador foi Toy Story 4). Mas que a vitória no Globo de Ouro foi um belo "prêmio de consolação", isso não podemos negar.
Nota: 7,0