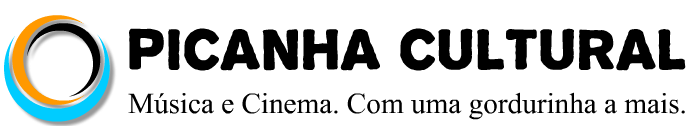quarta-feira, 29 de junho de 2022
Grandes Filmes Nacionais - Bye Bye Brasil
terça-feira, 28 de junho de 2022
Novidades em Streaming - A Colmeia (Zgjoi)
Pitaquinho Musical - Johnny Hooker (ØRGIA)
Se divertir, mas sem perder a capacidade de indignação. Dançar e refletir. Sentir ternura, amar, mas sem abandonar as questões que incomodam. É dessa dualidade que emerge um dos grandes discos nacionais do ano - no caso o maravilhoso ØRGIA, do Johnny Hooker. Em entrevista concedida ao UOL ainda em 2021, o artista afirmou que o Brasil precisava voltar a beijar na boca. "Voltar a ser feliz, ter desejo, se apaixonar, sofrer por amor. Voltar a viver, é isso. A minha música traz isso", resumiu. Pois essa espécie de expiação pedida pelo cantor, parece combinar ainda mais com esse 2022 tão duro, tão difícil, tão áspero - o que talvez explique a facilidade com que abrimos um largo sorriso diante de pequenas joias, como, Amante de Aluguel, Larga Esse Boy, Nos Braços de Um Estranho e Nhac!
Misturando estilo variados que vão do tecnobrega, passando pelo samba, até chegar ao pop alternativo, à música eletrônica e até ao sertanejo universitário, Hooker converte este terceiro registro em uma celebração à vida, que se apoia na tríade noite, sexo e política. Exemplo central desse expediente está na sinuosa CUBA, que joga o ouvinte para uma espécie de reggaetown improvisado e lânguido, enquanto o refrão pegajoso faz um convite que funciona tanto como como carta de amor, quanto como resposta ao ávido bolsominion que deseja enviar qualquer um que não apoie o seu projeto de presidente à ilha da América Central (Que só de te ver / Eu penso em largar tudo e fugir com você / Pra Cuba / Completamente, totalmente na tua). Ao cabo, é um disco debochado, cheio de calor humano, e que nos faz lembrar de que, em meio ao caos, a arte pode nos divertir e resistir em igual medida.
Nota: 9,0
segunda-feira, 27 de junho de 2022
Novidades em Streaming - Cha Cha Real Smooth: O Próximo Passo (Cha Cha Real Smooth)
sexta-feira, 24 de junho de 2022
Novidades em Streaming - Jerry e Marge Tiram a Sorte Grande (Jerry and Marge Go Large)
De: David Frankel. Com Bryan Cranston, Annette Bening, Rainn Wilson, Anna Campe Jake McDorman. Comédia / Drama, EUA, 2022, 96 minutos.
Um filme com uma história simpática, um elenco cheio de carisma e uma mensagem ok sobre a importância da coletividade. Assim é Jerry e Marge Tiram a Sorte Grande (Jerry and Marge Go Large), obra dirigida por David Frankel - de O Diabo Veste Prada (2006) - que está disponível no catálogo da Paramount+. Na trama, inspirada en eventos reais, acompanhamos o casal Jerry (Bryan Cranston, nosso eterno Walter White de Breaking Bad) e Marge (Annette Bening), que moram em uma daquelas cidadezinhas do interior do Michigan, em que uma boa parte dos habitantes trabalha na indústria local (no caso aqui, uma fábrica de cereais). Às portas da aposentadoria, Jerry parece ser invadido por uma certa melancolia após mais de 40 anos dedicados ao seu ofício - muitos deles como gerente de operações, algo que tem a ver com a sua aptidão para a matemática. Na primeira noite afastado de suas atividades, recebe da esposa e dos filhos um barco para que possa pescar - uma espécie de símbolo dos dias mais folgados que virão. Mas, e o que mais?
Na expressão abatida de Jerry parece emergir um sentimento de tristeza. É isso que reserva a vida? Pescar até o fim dos dias? Marge tenta animá-lo com frases sobre agora serem "apenas eles" e sobre a oportunidade de descobrir novos propósitos. Mas por onde? Quando mais novo, Jerry costumava entreter o filho Ben (Jake McDorman) em um exercício sobre tentar encontrar moedas de valor (raras) em meio a outras convencionais. O tédio daquela época virou apenas distância nos dias de hoje - e não deixam de ser sutilmente comoventes as sequências em que Jerry recorda instantes da adolescência do rapaz, quando ele tentava pedir algum suporte emocional para o pai, que se via absorto em outros interesses. Bom, não demora para que o protagonista se sinta revigorado ao conferir os números da loteria estadual, fazer alguns cálculos de probabilidade, e descobrir a possível existência de uma brecha que lhe permite ter ganhos praticamente ilimitados.
Sim, o filme basicamente é isso: sobre um casal de sessenta e tantos anos se sentindo reanimado para a vida, vendo seu próprio relacionamento ser oxigenado pela oportunidade de, a cada punhado de semanas, burlar o sistema dos jogos, ampliando seus rendimentos. Mas se engana quem pensa que essa é apenas uma comédia bobinha sobre como a ganância pode ser uma desgraça. Sim, esse componente até aparece lá pelas tantas, a partir do momento em que um grupo "rival" de astutos e ambiciosos jovens estudantes de Harvard também descobrirem a falha - o que renderá uma ótima coleção de piadas sobre o abismo geracional entre os antagonistas. Mas o principal ponto aqui é o que Jerry e Marge fazem com o dinheiro, reestruturando empreendimentos, apoiando uns aos outros financeiramente e distribuindo as riquezas entre toda a comunidade (que se vê estimulada até a fazer um grande festival de jazz local, como uma espécie de símbolo dessa união improvisada).
É claro que nem tudo dará tão certinho assim. Há, por exemplo, uma jornalista empenhada em trazer o assunto à tona - e a denúncia da fraude poderá representar um fim para o esquema. E existe também a própria entidade que comanda o sistema de loterias do Estado, que poderia complicar tudo. Só que tudo flui de forma muito leve, agradável, com o elenco claramente se divertindo em meio a inesperados comentários sociais sobre assuntos como sexo na terceira idade, provincianismo dos moradores de pequenas cidades, tédio na aposentadoria, e tentativas aleatórias de algum tipo de sentimentalismo mais acolhedor que, sinceramente, em tempos tão brutos, tão duros como os que vivemos, também não faz mal. A propósito dos atores, Rainn Wilson (o Dwight de The Office) está naturalmente engraçado como o "dono da bodega" que ajuda a dupla em suas tramoias, ao passo que Anna Camp e Larry Wilmore - que é o contador e também o agente de viagens local - cumprem seus papeis a contento. Jerry e Marge Tiram a Sorte Grande é simples, direto, sem grandes conflitos e, talvez por isso, meio esquecível. Mas pra uma noite de sexta-feira em que se queira apenas relaxar, pode ser uma boa pedida.
Nota: 7.0
quinta-feira, 23 de junho de 2022
Novidades em Streaming - Pleasure
terça-feira, 21 de junho de 2022
Novidades em Streaming - Fruto da Memória (Mila)
De: Christos Nikou. Com Aris Servetalis e Sofia Georgovassili. Drama / Comédia, Grécia / Eslovênia / Polônia, 2021, 91 minutos.
A premissa de Fruto da Memória (Mila) - que está disponível para aluguel na Amazon e na Apple TV - é curiosa e atual: em meio a uma espécie de pandemia mundial que causa amnésia repentina na população, uma empresa de tecnologia desenvolve um sistema que visa a construir novas memórias em seus pacientes. Nesse contexto acompanhamos o taciturno Aris (Aris Servetalis), um homem de meia idade que se locomove pela cidade de forma silenciosa, se alimentando persistentemente de maçãs. Enquanto o mundo padece desse novo mal, que faz com que as pessoas abandonem seus carros em meio a rua sem saber exatamente o que estão fazendo, Aris vai mantendo uma rotina melancólica, com o espectador tendo poucas informações a seu respeito. Um certo dia, em uma viagem de ônibus, Aris vai até o final da linha sendo despertado de um sono profundo pelo motorista: ele não lembra mais de nada. Não há um parente que lhe reivindique. Um irmão, filhos, os pais.
O protagonista resolve então ir até a clínica com a intenção de entrar no programa de recuperação. No local, ele recebe instruções em fitas cassete - aliás, dado o desenho de produção e a ausência de equipamentos mais modernos, a trama parece se situar nos anos 80 -, estimulando-o para atividades prosaicas como andar de bicicleta, ir ao cinema, a algum bar ou festa, namorar, transar. A comunicação é bastante básica, devendo o sujeito registrar (por meio de fotografias feitas em uma polaroid) todas as metas que ele alcança na busca de ser esse "novo sujeito". A estranheza é meio geral, tudo parece meio robótico, frio. Tal qual a existência em tempos atuais - onde a formação de novas memórias se dá por meio de selfies egocêntricas de tudo e de todos, mesmo das ações mais estúpidas -, a vida com esse componente digital parece meio desprovida de um significado mais profundo. De um sentido qualquer.
E talvez aí esteja a chave para que compreendamos o que pretende o diretor Christos Nikou com essa obra: ao olhar para o passado, ele analisa o vazio do presente, a mesquinharia dos atos, dos gestos. É claro que não é assim tão simples, já que claramente há mais camadas por baixo: Aris guarda alguns segredos, entre eles o que envolve uma dolorosa perda. E ter de lidar com o luto e a necessidade de desapegar e de seguir em frente, como se nada houvesse acontecido, pode ter a ver com a forma como a narrativa é conduzida. E até mesmo de como o protagonista se comporta. Há uma cena bastante expositiva em que Aris está comprando as suas maçãs, quando é alertado pelo dono do mercado de que "é muito bom comer maçãs porque elas fazem bem a memória". Imediatamente o homem substitui as maçãs por laranjas, afinal, quais memórias ele efetivamente quer guardar? Ou suprimir? O que deve ficar para trás ou ressurgir?
É um universo complexo, que emula desde o cinema alegórico de Charlie Kaufman, até clássicos sobre "novos mundos" como O Show de Truman (1998). Tendo recebido ótimas críticas no Festival de Veneza, o filme foi o selecionado da Grécia na mais recente edição do Oscar - e, ainda que não tenha chegado entre os finalistas, fez relativo burburinho na temporada. Ainda assim, talvez não seja uma obra para todos os paladares, já que se trata de uma experiência cheia de sutilezas, de ambiguidades e de informações que estão por baixo da fachada de normalidade que parece evocar de Aris. Em entrevistas de divulgação Nikou mencionou a facilidade com que as pessoas esquecem facilmente as coisas que lhes causam dor. "E isso que somos apenas uma coleção de memórias, de coisas que não esquecemos". Freud teria dito que a "cura não vem do esquecer. Vem do lembrar sem sentir dor". A frase, de alguma forma, resume aquilo que acompanhamos em Fruto da Memória. E o simples pensar sobre tudo isso, faz a jornada valer a pena.
Nota: 8,5
Pitaquinho Musical - Tim Bernardes (Mil Coisas Invisíveis)
Vamos combinar que, se depender da reação dos fãs do trabalho do Tim Bernardes, é possível afirmar que o compositor talvez tenha inaugurado algum tipo de subvertente musical, talvez uma espécie de "indie filosófico", que mescla sofrimento, afeto e otimismo em iguais medidas. Mas esse combo de sensações é muito menos turbulento e muito mais resignado - onde se reconhecem as dores, os lutos e as aflições da alma, mas também se reaprende a amadurecer, a prosseguir, a encontrar motivo para algum tipo de contemplação diante do mundo. Nem que seja uma reação a algo mais prosaico. Nesse sentido, a mescla de melodias homogêneas, econômicas e pontualmente ensolaradas não gerariam nenhum tipo de estranhamento se este segundo trabalho solo do vocalista d'O Terno se chamasse Recomeçar 2 - e não Mil Coisas Invisíveis.
Em entrevista ao site Papel Pop, o artista afirmou que desde <atrás/além> - último projeto com O Terno - se permitiu "fazer algumas canções com letras mais longas, em que eu ia desabafando e discorrendo sobre coisas de maneira meio ensaística, meio poética, meio objetiva, meio abstrata". Assim, Mil Coisas Invisíveis se apresenta como mais um daqueles trabalhos que requerem uma apreciação mais calma, onde se possa assimilar detalhes, encaixes, referências e orquestrações que se desdobram entre a economia e a expansão, a verborragia e a sutileza. Um bom exemplo desse expediente pode ser observado na graciosa e primaveril A Balada de Tim Bernardes, que alterna versos sofisticados (Quanto mais o tempo passa / Mais eu acho graça nessa enganação / Chamada virar adulto / O tempo é todo junto, sem separação), com um refrão amplamente pegajoso. Mas há mais, muito mais. Basta explorar.
segunda-feira, 20 de junho de 2022
Cinema - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (Everything Everywhere All At Once)
sexta-feira, 17 de junho de 2022
Grandes Cenas do Cinema - ET: O Extraterrestre (ET: The Extraterrestrial)
De: Steven Spielberg. Com Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton e Drew Barrymore. Aventura / Ficção Científica, EUA, 1982, 115 minutos.
É quase no final de ET: O Extraterrestre (ET: The Extraterrestrial) que ocorre uma das maiores sequências de perseguição da história do cinema. Ou talvez a maior. Nela, um grupo de adolescentes a bordo de bicicletas foge da polícia, dos militares, do FBI, da Nasa e de todo o resto, percorrendo um bairro residencial por entre casas, terrenos baldios, subindo e descendo morros como se estivessem em uma competição meio improvisada de BMX. Na carona de um dos meninos, o ET que dá nome ao filme - que acaba de "ressuscitar", após ser capturado pelo Governo e ser dado como morto. A cena avança para uma situação em que não parece mais haver pra onde fugir: os carros da polícia fizeram uma barreira. O improvável acontece: com os poderes do extraterrestre a todo o vapor os meninos alçam voo por sobre os policiais. Cruzam a cidade enquanto a trilha composta por John Williams sobe, passam pelo sol e chegam à clareira do início do filme, local em que o ser de outro planeta havia se perdido. O ET finalmente poderá ir para casa. Enquanto nós permanecemos em um mar de lágrimas em nossos sofás.
Existem experiências cinematográficas tão completas que, em um suposto dicionário ilustrado, não seria exagero colocar uma foto do filme ao lado da palavra obra-prima, por exemplo. E esse é o caso do clássico de Steven Spielberg. Pra mim que apaixonei por cinema no final dos anos 80 e no começo dos 90, obras como esta foram fundamentais. Quando criança costumava ver ET no Natal - o filme fora lançado no Brasil em dezembro de 1982 e passava frequentemente na TV aberta (era o nosso A Felicidade Não Se Compra). Na época, do alto da minha ingenuidade, ficava maravilhado com tudo, especialmente com o poder daquela história sobre amizade - não apenas entre Elliot (Henry Thomas) e o ET, mas também entre o menino e seu irmão mais velho Michael (Robert Macnaughtor). Mais adulto, consegui perceber o poder do subtexto na abordagem de temas relacionados ao respeito às diferenças e também ao meio ambiente (a cena em que Elliot liberta as rãs na escola, é quase explícita), além de haver am algumas camadas o questionamento de eventuais abusos de autoridade.
E, nesse sentido, mais do que uma aventura comovente sobre um menino ajudando um ET a voltar pra casa, temos uma experiência vigorosa sobre empatia, sobre compaixão, sobre afeto, sobre aceitação. E admito que fico ainda mais triste quando vejo um filme como esse, por perceber que estamos em um Brasil (e em um mundo, na real) que parece a cada dia caminhar para o oposto disso. O que abre espaço para um processo infindável de intolerância, de preconceitos, de ódio, de racismo, de xenofobia. Um governo de morte é daqueles que se empenha em fazer uma limpeza étnica. Em se livrar do diferente. Se o ET caísse em um morro do Brasil atual precisaria de uma centena de Elliots pra se salvar. E muita bicicleta voando. Sim, porque assistir a esse filme mexe com a gente. Ficamos nostálgicos, reflexivos, pensativos. É tanta dureza, é tudo tão torpe, que (re)assistir àqueles meninos flanando em suas bikes funciona quase como uma espécie de refúgio de tudo. Spielberg, te venero.
E muito desse sentimento tem a ver com o carisma dos personagens - especialmente do ET, que surge em cena como figura inicialmente exótica e tímida, que vai dando lugar a um alienígena de olhos curiosos e gestos afáveis - o que é completado por uma vocalização meio robótica, cortesia do ator Pat Welsh. Indicada ao Oscar em diversas categorias - como Filme, Roteiro Original, Direção, Edição e Montagem -, a obra sairia com os prêmios de Efeitos Visuais, Efeitos Sonoros, Edição de Som, Som e Trilha Sonora Original, o que faria justiça ao soberbo aparato técnico utilizado à época para dar vida a produção. Anos mais tarde, o trabalho seria reconhecido pelos votantes do American Film Institute (AFI) que, na relação de 100 Melhores Filmes Americanos de Todos os Tempos de 2007, incluiria o filme em uma honrosa 24ª produção. Um número impressionante para uma ficção científica estilo Sessão da Tarde. O público agradece.
Pitaquinho Musical - Perfume Genius (Ugly Season)
Quem acreditava que a obra do Perfume Genius caminharia em direção a uma sonoridade cada vez mais acessível, após o climático e delicado Set My Heart On Fire Immediately - nosso oitavo melhor disco internacional de 2020 -, talvez se surpreenda com o caráter um tanto hermético, quase de difícil digestão de Ugly Season, o sexto trabalho de estúdio de Mike Hadreas com o projeto. Aqui, resta pouco do espírito nostálgico, adocicado de canções calorosas como On The Floor e Without You. Como se desse um passo atrás nessa "evolução", o artista se reaproxima de suas origens, apresentando uma coleção de canções pontuadas por sutilezas, fragmentos, experimentos e estruturas pouco óbvias, ou que são marcadas por elementos melodiosos que o afastam de seu repertório recente.
Claro, há exceções ali no meio - caso das pegajosas Pop Song (com seu título autoexplicativo) e a própria faixa-título, que convida o ouvinte a algum tipo de movimento semi-regueiro. Mas em linhas gerais o trabalho é muito mais denso, inquietante, claustrofóbico e até sombrio - como sugere a evocativa Eye in the Wall que, com seus mais de oito minutos percorridos entre orquestrações sinistras, quase funciona como uma versão estendida do tipo de composição que Thom Yorke realizaria em Amnesiac (2001). Diante disso, o disco é chato? Excessivamente difícil? Não, é apenas mais desafiador. Mas certamente aqueles que se aventurarem a mergulhar nas ideias propostas pelo artista, encontrarão uma obra que, a seu jeito, reverbera ao mesmo tempo o caos atual (das guerras, dos preconceitos, do ódio e das doenças), ao passo que celebra de forma quase ritualística a natureza, o sexo, a personificação queer e a atmosfera luminosa que se sobressai em meio a névoa. Não dá pra ficar alheio.
quarta-feira, 15 de junho de 2022
Pitaquinho Musical - Vitor Ramil (Avenida Angélica)
O estilo invernal do sempre ótimo Vitor Ramil ganha uma roupagem ainda mais poética com Avenida Angélica, seu décimo segundo trabalho de "estúdio". E o estúdio nesse caso é realmente entre aspas, já que o registro é resultado de duas noites de gravação realizadas em agosto do ano passado, no Teatro Sete de Abril em Pelotas. Para o disco, o artista utilizou como base dois livros escritos pela conterrânea Angélica Freitas - no caso, Rilke Shake e Um Útero É do Tamanho de um Punho - extraindo de seus versos uma coleção de canções envolventes, pontuadas pelo sempre presente violão de Ramil. "A poesia da Angélica é cult, é pop, é tocante, é divertida, é crítica, é amorosa e, acima de tudo, é muito musical", salientou o músico no material de divulgação do álbum.
Nesse sentido, poemas como Rilke Shake recebem uma roupagem intimista, capaz de transformar versos enigmáticos em uma experiência semicatártica que mistura cotidiano, referência culturais diversas e sentimentos palpáveis e abstratos em igual medida (Nada bate um Rilke shake / No quesito anti-heartache / Nada supera a batida / De um Rilke com sorvete). O expediente se repete em outros tantos momentos primorosos, casos de Uma Mulher Insanamente Bonita, R.C, Mulher de Rollers e Família Vende Tudo (Família vende tudo / Um avô com muito uso / Um limoeiro / Um cachorro cego de um olho), que comprovam que poemas musicados podem ter ritmo, serem melodiosos e até conter refrões pegajosos. "Nas primeiras leituras eu já senti música nos versos de Angélica", resumiu o artista em entrevista ao Matinal Jornalismo.
Novidades em Streaming - Árvores da Paz (Trees of Peace)
De: Alanna Brown. Com Eliane Umuhire, Charmaine Bingwa, Bola Koleosho e Ella Cannon. Drama, EUA, 2022, 97 minutos.
Os filmes da Netflix podem até soar meio parecidos entre si - aquele estilo de produção feita a toque de caixa, em escala um tanto industrial -, mas uma coisa não se pode negar: muitas vezes cumprem seu papel na hora de jogar luz sobre eventos históricos. Ou sobre questões políticas, culturais e religiosas de outros países que não apenas os Estados Unidos. Há todo um mercado do cinema turco, por exemplo, que tem tido ótimo apelo junto ao público. Obras que partem de recortes para analisar o todo, trazendo contrastes sociais e dramas novelescos feitas com grande apuro técnico. E quando Árvores da Paz (Trees of Peace) chegou, fiquei meio desconfiado: o tema é relevante - retorna ao período que ficou marcado pelo genocídio em Ruanda, episódio que chocou o mundo em 1994, resultando em quase um milhão de mortos -, mas parecia ser mais um filmezinho caça-níqueis, que força a barra na busca de emocionar o espectador, ao passo que esvazia a importância daquilo que discute. Mas admito que gostei.
Aqui não se tem aquela obra expansiva, com grandes planos ou que apresenta os vários ângulos do conflito. Sim, o filme de estreia da diretora Alanna Brown até tem como pano de fundo o massacre promovido por extremistas hutus - que assassinaram milhares de integrantes da minoria tutsi, em uma campanha de ódio que contou com o suporte do próprio governo, dos meios de comunicação e de milícias fortemente organizadas. Só que, nesse caso, a realizadora opta por centrar a ação no porão de uma casa, local em que quatro mulheres permanecem escondidas (presas mesmo), enquanto aguardam o fim do período de instabilidade. Diferentemente do que ocorre com outros, como Hotel Ruanda (2004), aqui não há muito espaço para explicações a respeito da lógica da política interna de Ruanda. Ela é apenas absurda. E, às protagonistas, resta esperar. Num exercício quase interminável de paciência, por mais de 80 dias. Com pouco acesso a alimento ou água e um banheiro improvisado.
Mesmo assim são muitos os instantes de tensão. Tendo acesso à rua apenas por uma janelinha gradeada ao nível da rua, as quatro conseguem não apenas enxergar parte da truculência que ocorre para além da parede, do lado de fora, como também ouvir. Ouvir tudo. Gritos, facadas, tiros, cachorros latindo, pessoas sendo atacadas, estupradas, mortas. É uma obra claustrofóbica, sufocante, porque às mulheres que ali se encontram sequer é permitido extravasar. É preciso persistir em meio a conversas sussurradas, em um comovente exercício de paciência. Especialmente pelo fato de as quatro serem completament diferentes entre si. A começar por Annick (Eliane Umuhire), mulher hutu moderada, que está grávida e que é a proprietária da casa em que todos estão. Jeanette (Charmaine Bingwa) é a freira que parece ter a sua fé testada o tempo inteiro. Já Mutesi (Bola Koleosho) é uma tutsi que carrega uma grande raiva interior - que a faz culpar os hutus por toda a violência. E por fim há Peyton (Ella Cannon), uma americana que integra uma Organização Não Governamental que atua no local.
Mesmo sendo tão diamentralmente opostas - o que renderá um sem fim de sequências de desentendimentos entre elas -, é possível afirmar que elas formariam, metaforicamente, uma espécie de embrião para o tipo de política que seria adotada em Ruanda, ao final do genocídio. Hoje, Ruanda é uma das nações que mais conta com mulheres ocupando cargos públicos no mundo. Isso significa algum aceno para a possibilidade de pacificação? Não necessariamente, mas alguns indicadores mostram que a ampliação do debate de pautas que envolvem os direitos da mulher podem estar contribuindo para a reconstrução do País pós-genocídio (claro, há o fato de que 70% da população de Ruanda é composto por mulheres). No filme, esse engajamento que rompe o escudo do machismo e do patriarcalismo, surge em meio a sequências em que as quatro mulheres se apoiam, agem com empatia, ensinam umas as outras (inclusive a ler) e formam uma espécie de rede de proteção, que será fundamental para que consigam superar a adversidade. Trata-se, ao cabo, de uma obra ao mesmo tempo desalentadora e otimista, mas que não ignora o desatino da xenofobia e a importância da manutenção da democracia.
Nota: 8,0
terça-feira, 14 de junho de 2022
Novidades em Streaming - Blue Bayou
De: Justin Chon. Com Justin Chon, Alicia Vikander, Sydney Kowalske e Mark O'Brien. Drama, EUA, 2021, 119 minutos.
Ok, a gente até sabe que indicação ao Oscar não depende apenas da qualidade de um filme, já que é preciso uma ampla campanha de marketing por trás da produção. Mas ao final da projeção de Blue Bayou, considerei meio inacreditável o fato de a obra dirigida e estrelada por Justin Chon ter passado completamente batida na principal premiação do cinema. O projeto, afinal, tem todos os elementos que costumam agradar a Academia - indo desde o drama dilacerante, passando pela temática relevante, até chegar às incríveis interpretações do elenco principal, inclusive da pequena Sydney Kowalske, que tem uma entrega comovente. A trama versa sobre o processo de deportação tardio que é vivido por milhares de estrangeiros adotados nos anos 80 e 90 por famílias americanas, que descobrem não possuir cidadania. Uma situação dramática, que deixa vulnerável uma boa parcela da população de outros países que cresceu nos Estados Unidos - muitos inclusive sequer sabendo do fato de não serem cidadãos da nação em que vivem.
Bom, não é preciso ser tão ligado em política internacional para saber que um governo xenófobo como o do recente Donald Trump torna tudo ainda pior. Uma matéria da BBC dá conta de que a Campanha pelos Direitos dos Adotados (ARC, na sigla em inglês), estima que até 2033 mais de 60 mil estrangeiros possam estar em risco de deportação, por conta de alguma irregularidade em sua documentação. Ou por mera burocracia mesmo - e não deixa de ser meio bizarro pensar que em um mundo tão supostamente globalizado, ainda haja tantos casos de pessoas precisando comprovar não serem "apenas" imigrantes, com o risco de serem separados de suas famílias e enviados para um País que sequer conhecem. Em Blue Bayou esse é o caso de Antonio (Justin Chon), coreano adotado por uma família americana aos três anos de idade e que, por conta de um episódio de abuso de autoridade envolvendo a polícia, passa a correr riscos de deportação.
Trabalhador de um estúdio de tatuagem, Antonio está empenhado em conseguir um segundo emprego para que possa dar conta do sustento da família, que é integrada pela namorada Kathy (Alicia Vikander), e pela pequena enteada Jessie (Sydney Kowalske) com quem mantém, meio aos trancos e barrancos, uma amorosa relação. Diante de tantas negativas - Antonio já esteve na prisão por duas vezes por conta de assaltos com roubo de motos -, o protagonista vê a sua situação piorar, quando se envolve em uma confusão com uma dupla de policiais mal intencionados - um deles Ace (Mark O'Brien), que é o pai biológico de Jessie e que também luta para poder conviver com a criança. De mãos atadas, Antonio, Jessie e Kathy precisarão contar com a boa vontade de advogados caríssimos e do próprio Estado, que não parece lá muito interessado em preservar os seus estrangeiros em solo americano. Ah, detalhe importante: Kathy está grávida.
Excruciante, a obra utiliza grande parte de seu aparato técnico em favor da narrativa - ele pode até ser modesto (é um filme de baixo orçamento, afinal), mas é muito efetivo. Um bom exemplo disso está nos eventuais longos planos sequência, sendo aquele que envolve a discussão do casal protagonista, após Kathy descobrir que Antonio voltou a praticar furtos (no intuito de obter dinheiro para custear os honorários jurídicos), um dos mais marcantes. Mas há ainda a trilha sonora - a aparição de um Bon Iver lá no meio é mais do que perfeita, além da própria canção de Roy Orbison, que nomeia o filme - e um certo apelo ao onírico na fotografia, especialmente nas sequências que mostram cenas da juventude da desesperada mãe de Antônio. E isso sem falar nas interpretações, e, sério, Academia, dar um prêmio pro Will Smith e ignorar o Justin Chon na temporada se configura quase em um crime. E Alicia e Sydney, é bom que se diga, não ficam atrás. Você, fã de bom cinema, faça justiça a essa joia que está disponível para aluguel na Apple TV e na Amazon. Assista. Pra ontem.
Nota: 9,5
segunda-feira, 13 de junho de 2022
Tesouros Cinéfilos - As Maravilhas (Le Meraviglie)
sexta-feira, 10 de junho de 2022
Cine Baú - Umberto D. (Umberto D.)
quarta-feira, 8 de junho de 2022
Cinema - Miss França (Miss)
terça-feira, 7 de junho de 2022
Curta Um Curta - Wichita
Essa aqui é pra quem gosta de filmes realmente curtos: com pouco menos de seis minutos de duração Wichita consegue, afinal, passar o recado de forma divertida, urgente e criativa. Na trama - dirigida pela atriz Sergine Dumais -, a jovem Sara (Maxim Roy) acorda com o telefone tocando Trata-se de seu marido Josh (Jeremy Sisto), que esté em viagem de negócios e precisa de um cartão com um número de telefone, que estaria em uma das gavetas da cômoda do quarto. Só que tem um detalhe: Sara não está em sua cada e sim na de um amante. Enquanto tenta enrolar o marido com perguntas sobre como estaria tudo em Wichita, a cidade do Kansas, a protagonista se esforça em correr até a sua residência para ajudar o marido - e também tentar salvar o casamento! A corrida contra o relógio dura alguns quarteirões, até o momento em que Sara chega a casa e, bom, há na sequência uma boa reviravolta, nessa pequena joia disponível na plataforma Filme Filme. Rápido e recompensador!
Tesouros Cinéfilos - Orgulho e Esperança (Pride)
segunda-feira, 6 de junho de 2022
A Volta ao Mundo em 80 Filmes - A Bela e os Cães (Tunísia)
De: Kaouther Ben Hania. Com Mariam Alferjani, Ghanen Zrelly e Anissa Daoud. Drama, Tunísia / França / Líbano / Noruega / Qatar / Suécia / Suiça, 2017, 100 minutos.
Um estupro aparentemente cometido por policiais. Esse é o ponto de partida de uma madrugada em que Mariam (Mariam Alferjani), a protagonista de A Bela e os Cães (Aala Kaf Ifrit) - filme tunisiano disponível no Mubi -, sofrerá um sem fim de abusos físicos e psicológicos enquanto se esforça em denunciar a violência sofrida. Afinal de contas, como que se denuncia um abuso que é cometido justamente por aqueles que deveriam defender o cidadão? Sim, unidades de polícia criminosas, corruptas, violentas não parecem ser exclusividade do Brasil e, em países ainda mais misóginos, machistas e patriarcais como a Tunísia, todo esse contexto parece ser ampliado. A dificuldade geral em relatar um crime sexual vai do hospital, passando pela delegacia até chegar à esfera privada, onde uma mulher violada ainda corre o risco, como consequência, de ser considerada impura, marginalizada (especialmente em nacionalidades em que o fanatismo religioso impera).
Filmada quase como se fosse um grande plano sequência, a obra da diretora Kaouther Ben Hania - do recente (e ótimo) O Homem que Vendeu Sua Pele (2020) - assume um caráter propositalmente documental, inserindo o espectador como uma espécie de observador a se deparar com a completa sensação de abandono vivida por Mariam. Tudo começa em uma festa, onde a jovem está curtindo uma noite com as amigas - com direito a socorro de uma delas para uma troca de vestido já que o outro rasgou em um "acidente" na boate (aliás, o tipo de detalhe que funciona como uma espécie de rima visual perfeita sobre a temática do filme). Mais adiante, a protagonista conhece Yousseff (Ghanen Zrelly), se interessando pelo sujeito. Quando ocorre um corte do primeiro para o segundo ato - de nove no total -, Mariam já surge desesperada, fugindo de algo muito traumático que parece ter ocorrido. E é aí que uma verdadeira via crúcis em busca de justiça tem início.
Realista ao abordar a sensação de abandono social em episódios do tipo, o filme nos conduz inicialmente ao hospital onde, em vão, Mariam e Yousseff se empenham em obter algum tipo de atestado, um documento qualquer, que possa ser a comprovação de que ela foi violada. O que permitiria dar encaminhamento a um boletim de ocorrência com mais informações. No hospital as perguntas e respostas de médicos e enfermeiros variam de "mas ela está mesmo doente?" a "isso eu não tenho como tratar por não ser algo da minha alçada". Na delegacia, tudo se torna ainda pior, mais agressivo, mais torpe, mais revoltante, com os "homens da lei" agindo como figuras debochadas, cínicas, que colocam o tempo todo em dúvida as denúncias citadas por Mariam. As provocações chegam a Yousseff que reage e acaba sendo preso por desacato. "Esse cara não deveria estar lá pra te proteger?", questiona um policial - o mesmo que, mais tarde, verbalizará o inevitável "mas também com essa roupa, como você acha que não vai ser estuprada?", no mais famoso argumento de culpabilização da vítima que conhecemos.
Dolorida, a experiência evidencia a completa falta de justiça em episódios do tipo. Tudo é filmado de forma urgente, com uma câmera meio trepidante, próxima dos envolvidos, o que amplia a sensação de incômodo generalizado. Em uma das tantas cenas chocantes, a jovem praticamente implora que a polícia não telefone para o seu pai, o que tornaria tudo pior. Sim, em um episódio envolvendo um estupro, a protagonista não encontrará amparo na própria família que, em uma sociedade fechada, conservadora, provavelmente concordará com a justiça a respeito de supostas roupas inadequadas, comportamentos sexualizadas ou atitudes depravadas. Afinal, onde já se viu a mulher ser dona do próprio corpo né? Decidir como quer agir, pensar, vestir? Isso me fez lembrar do famoso episódio em que o Rodrigo Constantino, esse projeto mal acabado de articulista político, afirmou que castigaria a própria filha se ela chegasse em casa denunciando um estupro (Constantino se referia ao famoso caso Mari Ferrer). Esse é o tipo de coisa que faz com que percebamos que, em tempos de Bolsonaro, o Brasil não está assim tão distante da Tunísia.
sexta-feira, 3 de junho de 2022
Pitaquinho Musical - Alfie Templeman (Mellow Moon)
Tesouros Cinéfilos - O Doce Amanhã (The Sweet Hereafter)
De: Atom Egoyan. Com Sarah Polley, Ian Holm, Alberta Watson, Bruce Greenwood e Simon Baker. Drama, Canadá, 1997, 112 minutos.
Mais de uma vez durante o transcorrer de O Doce Amanhã (The Sweet Hereafter), gélido filme do diretor Atom Egoyan, Nicole (Sarah Polley) realiza leituras do poema O Flautista de Hamelin. Escrito por Robert Browning em 1842, o texto remonta à Idade Média e conta a história de um gaiteiro de roupas coloridas, que é contratado por uma cidade para atrair ratos com seu cachimbo mágico. Só que quando os cidadãos se recusam a pagar pelo serviço de desinfestação, ele se vinga da cidade usando o seu poder mágico contra os seus filhos - atraindo-os assim para longe. Nesse contexto apenas uma das crianças não consegue acompanhar o cortejo: ela é manca. Nicole, que lê e relê a fábula para os filhos de Billy (Bruce Greenwood) é a única sobrevivente de um grave acidente com um ônibus escolar, que tirou a vida de 14 crianças de uma pequena cidade do interior do Canadá. Ela está em uma cadeira de rodas. E talvez não queira acompanhar os "ratos" que desejam dela uma vingança diante do ocorrido.
Por ratos leia-se, na realidade, o advogado Mitchell Stephens (Ian Holm), que parece ver na tragédia uma grande oportunidade de processar os responsáveis - e faturar uma boa grana. As intenções dele parecem nobres. Mas será? A cidade que ele encontra após o acidente parece meio paralisada, estática, entorpecida com a dor. Seus moradores mal se movimentam, agem com discrição. Há algo que parece estar pairando o tempo todo sobre aquela comunidade - algo que está escondido, submerso. Segredos? Questões sem uma resposta clara? A incerteza e a letargia surgem em cada canto, em cada encosta coberta pela neve, em cada estrada vazia e solitária percorrida. Há um frio generalizado e dolorido que parece saltar o tempo todo da tela. As pessoas estão enlutadas e talvez cansadas. O jurista realiza o seu périplo em busca de interessados em entrar com uma ação. Contra qualquer um: o departamento de transportes, a fabricante do ônibus, a própria motorista. É tudo sutil, mas ao mesmo tempo turbulento.
A primeira parada do protagonista é na casa dos donos do motel local Wendell (Maury Chaykin) e Risa (Alberta Watson) que recebem o sujeito meio à contragosto. Perguntados sobre os demais moradores, o casal - que mais briga do que dialoga - parece incapaz de falar qualquer coisa de positivo dos demais habitantes. Um é um beberrão, outra age como uma prostituta, um terceiro é um picareta, drogado ou hippie. Há feridas abertas entre todos ali, o que vai evidenciando aos poucos que, por baixo do véu branco de um coletivo de famílias que busca se reerguer, reside um sem fim de ressentimentos, que tornarão complicada qualquer ação mais coletiva. Não demora para que outros segredos venham à tona: Risa, por exemplo, trai o seu marido com Billy. Já Nicole, postulante a cantora country parece ter uma relação quase incestuosa com seu pai Sam (Tom McCamus). A hipocrisia anda em toda a parte, em cada curva, prestes a sair da estrada. Como um ônibus desgovernado.
Ganhador do Prêmio Especial do Júri de Cannes em 1997 e indicado a dois Oscar, O Doce Amanhã é, atualmente, uma obra que divide opiniões. Há quem considere o estilo melodramático meio datado e a ambientação geral meio brega. De minha parte considero que o filme de Egoyan funciona muito mais como uma experiência sensorial do que necessariamente como um filme de tribunal, com advogados indo até as últimas consequências em processos. Nesse sentido há que se considerar as escolhas técnicas bastante sofisticadas para um filme do final dos anos 90 - suas tomadas aéreas amplas, os planos gerais que acompanham o ônibus, a trilha sonora comovente, a fotografia esbranquiçada e paralisante. É, ao cabo, um drama triste que nos evoca para que prestemos atenção aos detalhes, ao que está nos cantos, àquilo que talvez não seja tão óbvio. Decifrar o final talvez não seja tão simples: mas para uma comunidade que convive com a dor, a expiação do luto já será castigo suficiente.