A ficção científica existencialista é um dos subgêneros mais fascinantes do cinema. Por meio de toda a parafernália tecnológica, de efeitos especiais, ação (por vezes), há um enorme potencial humano a ser explorado naquele universo espacial, tão grandioso quanto misterioso. Um dos milagres que uma equipe de filmagem pode (e deve) realizar é a imersão do espectador naquele mundo, tornando o que vemos em tela (grande, de preferência) algo crível. Aquele monte de imagens em movimento, luzes, cores, sons e músicas, por si só devem provocar alguma reação: estranheza, medo, emoção, mesmo que não saibamos exatamente o que estamos presenciando - o que muitas vezes pode ser um revés para aqueles que buscam um entretenimento escapista com algumas explosões e sons mirabolantes, o que definitivamente não é o caso deste maravilhoso Ad Astra, embora algumas cenas certamente deixarão expectadores boquiabertos pelo seu virtuosismo.
Mais recente filme do cineasta James Gray (Amantes, Z: a cidade perdida, Era uma vez em Nova York) em parceria com o astro Brad Pitt, que vem se dedicando a estrelar/produzir cada vez mais projetos autorais/ousados/maduros, Ad Astra (que no português recebeu o subtítulo rumo às estrelas) desde já entra no rol das grandes obras do gênero, e compará-lo a clássicos do cinema como 2001: uma odisséia no espaço, Solaris, e o recente A Chegada, não deve ser encarado como exagero. Partindo de uma premissa simples, com poucos personagens e diálogos, o que importa aqui - para além da resolução - são as questões levantadas e o meio utilizado para nos fazer refletir sobre o que é dito (muito pouco) e mostrado. Adotando um tom sóbrio e minimalista (assim como seu personagem principal), são nas pequenas inflexões e "explosões" que vamos dissecando o enorme conflito interno de Roy McBride (Pitt), astronauta que, num futuro indefinido, após testes psicológicos extremos que provam sua habilidade de não se deixar abater pelo mundo exterior (sua pulsação dificilmente passa dos 60 batimentos por minuto, mesmo em situações de perigo), é enviado para uma missão secreta ao espaço, com escala pela Lua e em direção à Netuno, lugar onde provavelmente se encontra vivo o pai, H. Clifford McBride (Jones), e cujo encontro poderá encerrar uma série de catástrofes que estão afetando o planeta Terra devido à busca de recursos em outros planetas.
Mas é no terço final onde a obra atinge o sublime ao lentamente revelar as camadas escondidas, quebrando a parede que isolava o personagem principal durante o tempo que pudemos conhecê-lo. O encontro com o pai revela muito dizendo muito pouco: da cegueira que nos aflige quando, na ânsia em procurar vida inteligente fora da Terra, acabamos por esquecer das pessoas em nosso entorno, "vida inteligente" esta que pode muito bem ser um projeto, a busca de sucesso profissional, de riqueza, que quase sempre relaciona-se à ambição e à vaidade. Ao tentarmos castrar nossos instintos e sentimentos como forma de obter controle sobre a própria vida e sobre as coisas, podemos estar perdendo talvez o que de melhor podemos oferecer, aquilo que nos define como seres humanos. E neste ciclo que se repete indefinidamente não há como escapar da ironia de termos que cortar o cordão umbilical deixando, de forma inversa, aqueles que nos deram a vida partir - como uma cena lindamente sugere e, de forma transformadora, apresenta uma catarse sufocada na qual, como o personagem Chris de Na Natureza Selvagem tragicamente se dá conta, poucos tem o privilégio de reconhecer: de que nem sempre estamos focados somente no que é importante. E é maravilhoso perceber que, em um espaço infinito, há a representação de algo tão universal naquele homem que, representando toda a humanidade, ao ser colocado na escala significaria apenas um grãozinho de areia em um deserto gigantesco. E justamente por sermos tão pequenos é tão incrível reconhecer a probabilidade quase nula de pararmos lado a lado de outros grãos tão pequenos como nós, mas com um universo tão grande para ser explorado dentro de cada um. E é por isso que é um milagre, e um privilégio, conviver com cada pessoa que cruza por nossas vidas, tentando ser alguém melhor e, quem sabe, como a imagem que muito bem podia fechar o filme sugere, se juntar aos bilhões de estrelas em uma paisagem que ecoará por muitas gerações.
Nota: 9,0





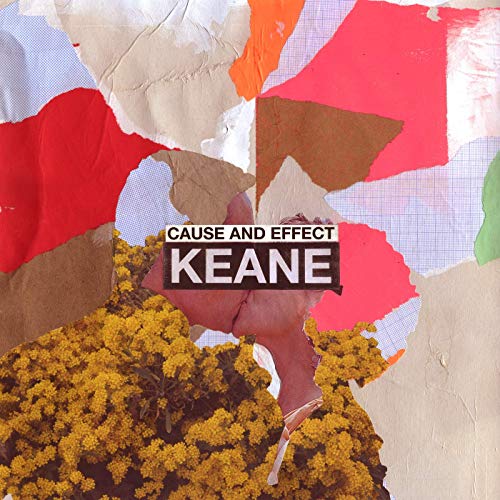



/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/64140453/yesterday_1_2000.0.jpg)















