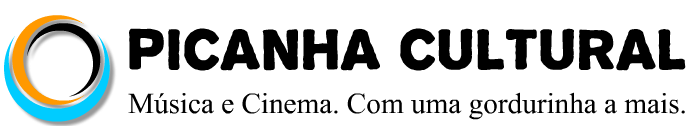De: Megan Park. Com Jena Ortega, Maddie Zigler, Shailene Woodley, Julie Bowen e John Ortiz. Drama, EUA, 2021, 96 minutos.
Lidar com traumas, tentar superá-los, reconhecer os gatilhos que possam vir a dispará-los. Transpor situações emocionalmente desgastantes não é tarefa fácil e, no econômico e surpreendente A Vida Depois (The Fallout), disponível na HBO Max, a jovem diretora Megan Park aborda o tema a partir de um recorte íntimo, mas sem ignorar o todo. O tema aqui são os muitas vezes inexplicáveis e trágicos episódios em que jovens frustrados carregam armas para as escolas para, sem nada que lhes impeça, abrir fogo contra colegas, professores, funcionários. No centro da narrativa, as adolescentes Vada (Jena Ortega) e Mia (Maddie Zigler) presenciam um acontecimento do tipo. Só que como estavam no banheiro do colégio em que estudam, escapam da morte, apenas ouvindo tudo - os disparos, os gritos, o desespero (aliás, aqui vale ressaltar os méritos da realizadora na construção do suspense sem necessariamente mostrar o banho de sangue em si).
De personalidades aparentemente distintas - Vada parece ser mais descontraída (até no modo de se vestir), ao passo que Mia é a patricinha da escola (aquela famosinha que agrega alguns milhares de seguidores com dancinhas no Instagram) -, ambas se deparam com o fato de estarem conectadas pelo evento que as traumatizou. Voltar à escola, retornar ao ambiente em que tudo ocorreu, dar uma simples escapada para o banheiro, nada será fácil nessa tentativa de recomeçar. Ainda assim, as meninas se esforçam para tentar esquecer (como se fosse possível) e vão vivendo a vida como viveria qualquer adolescente de 16 anos: fumam maconha (e até experimentam drogas mais pesadas), passam pelas primeiras relações sexuais, divagam sobre a vida, sobre o futuro, sobre o passado. Só que num olhar que permanece no horizonte, num instante de silêncio, numa mensagem pelo whats que parece um pedido de amparo, parece sempre haver um algo a mais. Algo que lá no fundinho ainda mexe. E mexe, claro.
E vamos combinar que é justamente na ampla gama de sentimentos possíveis - verbalizáveis ou não - que reside a grande força da narrativa. Quantas vezes escondemos o que estamos sentindo por baixo de uma espécie de concha que, supostamente, nos daria uma força que provavelmente não temos? Quantas vezes sorrimos querendo chorar? Ou engolimos palavras que deveriam ter saído? Com abordagem delicada, Megan não se apressa ao evidenciar que no íntimo dos envolvidos, todos sofrem com o trauma do ataque à escola. Preocupados com Vada, os amorosos pais Patricia (Julie Bowen, a nossa querida Claire de The Modern Family em um papel sério) e Carlos (John Ortiz) encaminham a jovem para a terapia, feita com a psicóloga Anna (Shailene Woodley). As conversas parecem não dizer nada, mas dizem tudo. A dor está lá dentro, profunda. Quase secreta. As insatisfações juvenis se tornam maiores. Parecem um edema profundo que percorre as vísceras.
Em linhas gerais trata-se de uma obra bem desenhada, que não tem pressa em acontecer. Superar um trauma é, também um exercício de espera. Saber aguardar. Buscar conforto. Amar e ser amado. Se medicar, fazer terapia. Dar um abraço em quem se ama. Só que, ainda assim, o filme é certeiro ao nos fazer lembrar que o problema de episódios "isolados" como este tem muito mais a ver com os tempos que vivemos. Tempos de ódio, de preconceitos, de intolerância. De jovens que querem fazer parte de algo no mundo e que se veem seduzidos por discursos beligerantes, armamentistas, supremacistas. De governantes, que legitimam a violência. Jovens muitas vezes inseguros, facilmente manipuláveis. Ainda que a diretora não se ocupe em esmiuçar as origens de cada uma dessas tragédias - ou aponte motivos naquela que acompanhamos nesse filme -, a gente sabe que, muito provavelmente, elas ainda ocorrerão. De forma inesperada. Triste. Dolorida. E o trauma? Bom, esse sempre estará pronto pra retornar. Até mesmo porque ele não se vai embora assim tão fácil. Infelizmente.
Nota: 8,0