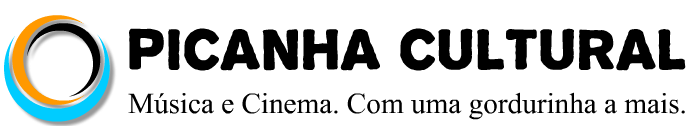Antes de se fazer qualquer comentário mais crítico a respeito de Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody) há que se destacar a ousadia de se levar para tela uma história tão magnética como a de Freddie Mercury (Rami Malek) e, consequentemente, do Queen. E não é fácil condensar. Muita coisa aconteceu naqueles cerca de 20 anos em que se concentra a narrativa - que vai dos primeiros anos de faculdade, quando Mercury (na época ainda o jovem Farrokh Bulsara, nascido na Tanzânia) conhece os seus futuros parceiros de banda, até a indefectível apresentação no Festival Live Aid, quando o Queen já era uma banda consagrada. Nos meio do caminho estão os bastidores das composições, o complicado relacionamento com Mary (Lucy Boynton), o homossexualismo, a descoberta do HIV, o comportamento hedonista, intempestivo e cheio de trejeitos. As inseguranças. As certezas. E a música.
Aliás, o público aparentemente tem gostado do filme - que foi dirigido por Bryan Singer e finalizado por Dexter Fletcher após o primeiro ter sido demitido - por que ele centra boa parte de seus esforços na parte musical. Sim, a ordem com que as músicas surgem na tela pode estar trocada, não respeitando uma ordem cronológica, mas o deleite que sentimos ao assistir de que forma Bohemian Rhapsody foi concebida, por exemplo, é indescritível. E tão prazeroso quanto acompanhar o processo criativo é "presenciar" o empresário Ray Foster (o impagável Mike Myers debaixo de TONELADAS de maquiagem) desacreditando a canção, não apenas pelos excessivos seis minutos, mas também pelo seu caráter hermético. Aliás, em partes, Foster tinha razão - a crítica odiou na época (e o filme mostra isso). Mas os fãs, que eram quem mais importava, amaram. E lotaram estádios!
O exercício criativo está em todo o canto e, aqui e ali, temos pinceladas de como podem ter surgido grandes clássicos como Love Of My Life, Another One Bites The Dust e We Will Rock You - e o fato de os verdadeiros Brian May (Gwylin Lee) e Roger Taylor (Ben Hardy) terem sido consultores da película é um indicativo de que possamos estar próximos da verdade (ainda que, aqui e ali, há que se considerar as justas "licenças poéticas" do grupo de realizadores). Em meio a tudo, brigas, excessos ególatras, festas luxuosas e luxuriosas e alguma arrogância. E Malek absolutamente impecável em sua caracterização de Mercury, com seus movimentos sinuosos, dentes proeminentes e postura de rock star, com direito a brigas com a imprensa e outros comportamentos moralmente duvidosos. Aliás, não é por acaso que, a despeito das críticas feitas à película, Malek tem aparecido em algumas bolsas de apostas como possível indicado ao Oscar.
E se há um grande pecado - e muitas vezes esse é o problema das cinebiografias - é a clara tentativa de não macular a história de Mercury. E de tornar o filme mais palatável para as "famílias de bem", que poderiam ficar em choque se "descobrissem" que Mercury era gay e que morreu de AIDS. Sim, eu estou ironizando. Na tela, apenas dois beijos gays e o sexo "nas entrelinhas" entre homens. O mesmo vale para o uso de drogas, nunca mostrado claramente - e sim por meio de estratagemas como mesas "esbranquiçadas" ou névoas permanentes. Mas são opções dentro de um filme, repito, ousado em sua megalomania. Que tem belo desenho de produção (a recriação da época é perfeita) e fotografia e figurino que remetem facilmente aos anos 60, 70 e 80. E a música? Bom, a música é o que move o filme. E é o que te fará estar com lágrimas nos olhos quando os créditos subirem.
Nota: 7,5