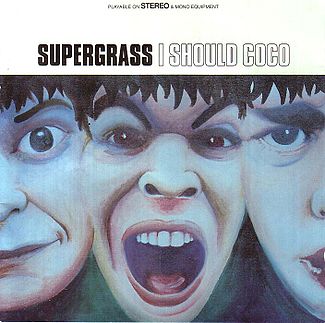Antes que se debata a qualidade de Jogos Vorazes: A Esperança - O Final (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) enquanto filme - e todas as escolhas relacionadas ao capítulo derradeiro da saga - é preciso que se diga que a autora Suzanne Collins criou uma baita história. Não li os livros e não faço a mínima ideia se são bons ou ruins. Se são bem escritos ou apenas se aproveitam de um grande argumento. Mas só o fato de ter pensado a sua distopia não apenas como uma veemente crítica aos reality shows - e somente o nosso ímpeto voyeuristico para explicar o surgimento de dezenas de programas no formato nos últimos anos - mas também como uma excelente trama de ação, com personagens divertidos e interessantes e algum romance, já formaria um conjunto digno de nota.
Some-se a isso uma protagonista - no caso a engajada Katniss Everdeen (Lawrence) - que mostra força na hora de ser o símbolo de uma revolução que busca derrubar um governo totalitário (outro ponto positivo da metáfora criada por Collins) e, bom, tá ganho o jogo. Após 75 anos dos infames Jogos Vorazes, que resultaram em centenas de jovens mortos entre os 12 distritos da fictícia Panem - e que serviram apenas para o regozijo da plateia moradora da "capital", que se manteve alheia ao drama de cada família que via a participação no cruel reality como um prenúncio de sofrimento - é a hora de a protagonista vingar todos esses anos de injustiças cometidas, libertando o povo das garras do ditador Snow (Sutherland).
O filme começa com Katniss ainda se recuperando do choque de ver Peeta (Hutcherson) contra ela, após o jovem passar por um processo de lavagem cerebral orquestrado por Snow. Nesse momento, a presidente Coin (Moore) envia a protagonista ao Distrito 2 com a intenção de convencer os relutantes moradores a se rebelarem contra a capital, já que, somente com a união de todos os distritos poderá ser possível derrubar o ditador. Coin não quer que Katniss esteja na linha de frente da batalha contra Snow, preferindo que ela seja apenas um símbolo da revolução - o tal "tordo" que tanto é mencionado na série. Não à toa, ela segue sendo usada como "modelo" para vídeos e propagandas que têm a intenção de ampliar o número de adeptos da revolução. E o papel da mídia, especialmente em tempos de guerra, acaba sendo fundamental no processo de construção da obra, não sendo menos importante (e até impactante) a única aparição do apresentador Ceasar Flickermann (Tucci) - o João Kléber de Panem - que serve como a cara e a voz da mídia "estatal" que, com seu caráter oficial, procura doutrinar e reprimir os moradores locais.
Ao adotar uma paleta de cores ainda mais acinzentada e empoeirada (e consequentemente sombria) do que nos filmes anteriores, Lawrence abraça de vez o caráter melancólico do último episódio, em que apenas a guerra será capaz de libertar um povo. Katniss, ao lado de outros soldados recrutados por Coin, tentará entrar na capital. Mas para chegar em Snow deverá enfrentar um último e sádico jogo particular promovido pelo vilão: a inclusão de milhares de casulos (tipos de minas que podem se transformar em todo o tipo de armadilha) espalhados pelas ruas caóticas e opressivas da capital. Não é preciso ser nenhum adivinho para saber que o trajeto por entre as ruas da capital será o que renderá as melhores sequências de ação - com destaque para dois momentos: o primeiro, quando o grupo é atacado por uma espécie de maremoto de óleo e o segundo, em meio aos túneis escuros e claustrofóbicos da cidade, quando os tais "limpadores" aparecem. Os fãs de games, por sinal, certamente ficarão extasiados.
Ainda que o triângulo amoroso entre Katniss, Peeta e Gale (Hemswtorth) - somadas as insistentes alucinações do segundo - quase comprometa a regularidade da obra, o saldo final é positivo. As boas interpretações de todo o elenco, com destaque para Lawrence, que se consolida a cada dia como uma das mais importantes atrizes de sua geração, e Sutherland, capaz de deixar os cabelos arrepiados com sua voz calma e modos tranquilos (que apenas servem para encobrir um comportamento beligerante), também não deixam de ser um ponto de destaque. Philip Seymour Hoffmann acaba tendo um "final" digno em seu último papel sendo peça chave, apenas com o seu olhar e modos insinuantes, para a percepção de Katnis a respeito do perigo de uma ditadura deposta dar lugar a outra logo em seguida. Agora, o que deixa a desejar MESMO é o epílogo, que, ao "forçar a barra", quase coloca por água abaixo uma série que mobilizou e conquistou tantos fãs mundo afora. Mas a gente perdoa o deslize.
Nota: 7,3





















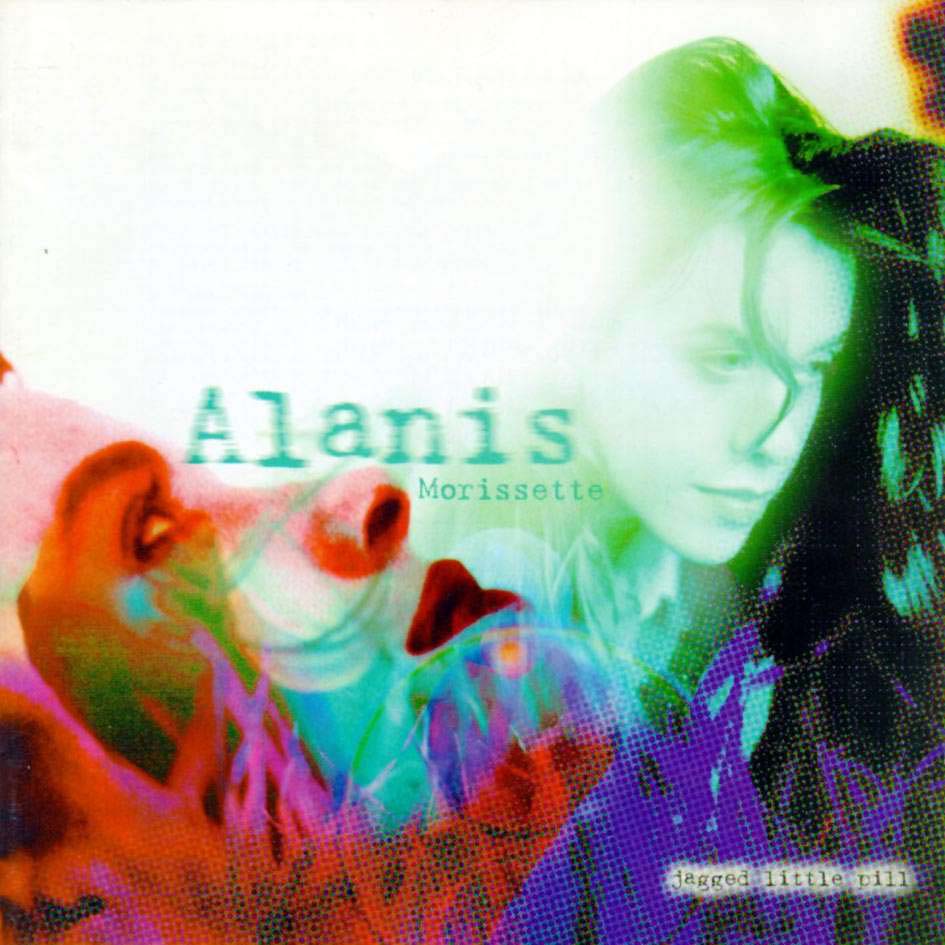




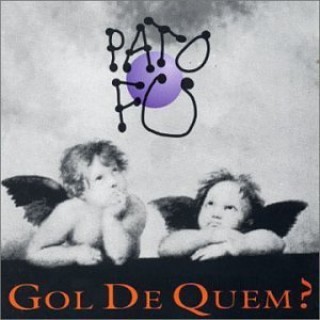

.png)