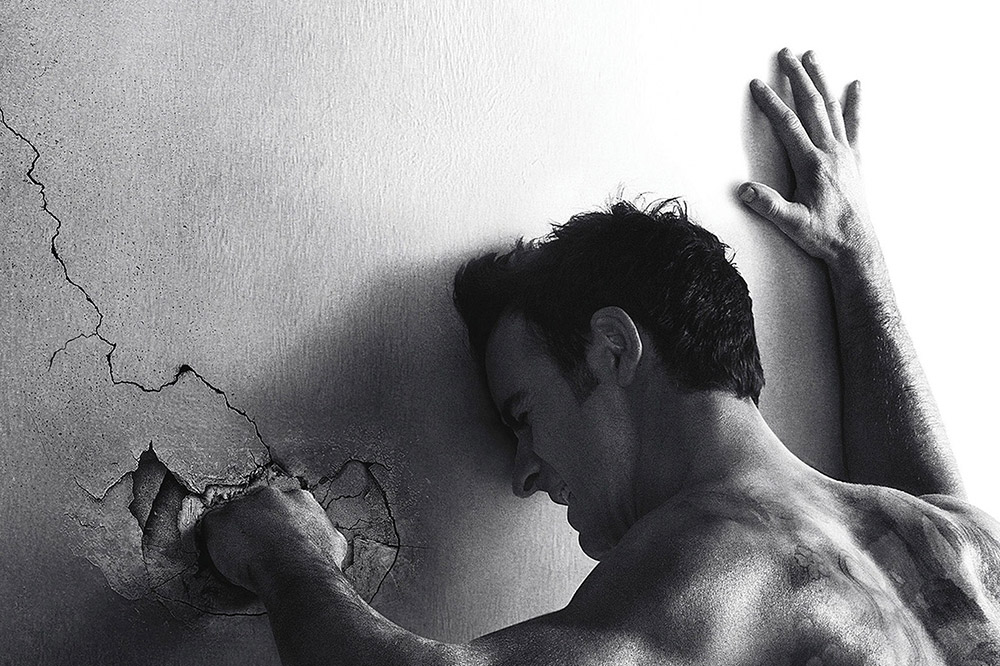terça-feira, 30 de junho de 2020
Novidades em Streaming - HAIM (Disco)
Acho que se fosse possível definir o mais recente disco das meninas do HAIM - intitulado Women In Music Pt. III - com apenas uma palavra, esta poderia ser "redondo". Por que não se trata apenas de um trabalho com produção ainda mais caprichada do que aquela vista nos dois registros anteriores - Days Are Gone (2013) e Something to Tell (2017) -, há também as arestas sendo aparadas, com o trio mais a vontade para trafegar em meio as influências diversas, que podem ir do rock and roll perfumado (The Steps), passando pelos anos 80 classudo (Another Try), até chegar no pop de emanações country mais ensolaradas de gemas como Leaning On You. Nas letras, em meio a curvas imprevisíveis que trafegam entre o jazz e a percussão africana - pode pintar até um barulho aleatório de despertador ou alguma outra trucagem eletrônica lá no meio -, os temas variam de paternalismo no mundo da música, relacionamentos abusivos e sororidade. É música com personalidade, madura, ousada e absurdamente divertida de ouvir. Estará em todas as listas de melhores do final do ano. Inclusive na nossa. Pode anotar.
Tesouros Cinéfilos - Louca Obsessão (Misery)
De: Rob Reiner. Com Kathy Bates, James Caan, Richard Farnsworth e Lauren Bacall. Terror / Drama, EUA, 1990, 107 minutos.
Com Louca Obsessão (Misery) as configurações de "fã xiita" - aquele tipo obcecado pelo artista - foram definitivamente atualizadas com sucesso. E da forma mais apavorante possível! O filme do versátil diretor Rob Reiner (Antes de Partir) foi adaptada de um livro do Stephen King e nos apresentou a uma Kathy Bates tão delirantemente alucinada, que ela faturou o Oscar de Melhor Atriz por seu papel. Algo, diga-se, não muito comum em filmes de terror. Na trama, Bates é a enfermeira Annie, uma mulher solitária, devota de Deus e que é completamente apaixonada pela obra do escritor Paul Sheldon (James Caan), de quem se diz fã número 1. Por um daqueles "acasos" Annie Wilker será a pessoa que salvará Paul da morte após um acidente de carro, em um local isolado, em meio a uma nevasca. No chalé em que ela vive, tomará os primeiros cuidados para a recuperação de seu hóspede improvisado.
Só que o que inicialmente eram chazinhos, medicamentos e uma atenção quase maternal de Annie, vai aos poucos mudar de figura, quando ela começar a mostrar uma personalidade instável e intempestiva. Paul perceberá que se salvou da morte. Mas que as coisas não estão tão assim melhores. Tudo começa quando Annie passa a dar muitas desculpas sobre estradas fechadas (por causa da neve) e impossibilidade de fazer ligações telefônicas à longa distância. Sem poder falar com sua agente e seus familiares, o escritor se verá em uma espécie de prisão, em que o limite é a porta do quarto. E como se não bastasse a sensação de horror que parece aumentar a cada dia passado no local, tudo piora quando Annie descobre o manuscrito do último livro de Paul - que estava em sua bolsa. Autorizada a lê-lo, ela ficará completamente contrariada com o rumo dado a uma das personagens, na história. Bom, não é preciso dizer que o que já estava ruim, vai piorar.
Como se fosse uma mistura de Baby Jane (de O Que Terá Acontecido a Baby Jane?) com Norma Desmond (de Crepúsculo dos Deuses), a enfermeira obrigará o sujeito a permanecer em sua propriedade até que entregue um livro que esteja satisfatório para ela. Enquanto os delegados locais tentam buscar alguma pista do Paul, ele vai sofrendo nas mãos de Annie, com torturas psicológicas que vão desde a queima do livro que seria entregue à editora até chegar a agressões físicas, como na famosa cena da marreta. Aliás, eu não li o livro de King, mas posso dizer que Reiner é hábil em construir o clima de terror crescente, transformando até mesmo cenas prosaicas (e excêntricas) como a da aparição do porco de "estimação" de Annie, em sequências absurdamente angustiantes. O que é reforçado pela alternância de humor da algoz, capaz de ir do sorriso dissimulado à seriedade taciturna em segundos (e são essas pequenas inflexões que, a meu ver, valorizam ainda mais a caracterização de Bates que, realmente, está assombrosa).
Tecnicamente, o filme também é formidável. O uso de contra-plongées - aquele recurso em que vemos o personagem de baixo para cima - reforça bem o caráter monstruoso de Annie, que sempre parece maior do que é, ao passo que Paul, por estar numa cama, sempre surge como uma figura menor, amedrontada. O desenho de produção (e até mesmo o figurino) contribui para que acreditemos naquela casa como um espaço claustrofóbico, sufocante, com corredores apertados, mobília velha e decoração obsoleta. Tudo parece antiquado, anacrônico, o que dialoga com a personalidade retrógrada de Annie - uma mulher que crê em Deus e que não aceita um tipo e literatura que subverta a lógica das convenções, especialmente as religiosas (ela não gosta, por exemplo, dos palavrões que surgem no último livro). Todos esses detalhes contribuem para que estejamos permanentemente apreensivos. Tudo é imprevisível e até dolorido - há uma cena envolvendo o xerife (o ótimo Richard Farnsworth) da cidade que é de partir o coração. Louca Obsessão completa 30 anos de seu lançamento em novembro e segue assustando, com Kathy Bates permanecendo para sempre como uma das mais inesquecíveis vilãs da sétima arte. Vale recordar!
Com Louca Obsessão (Misery) as configurações de "fã xiita" - aquele tipo obcecado pelo artista - foram definitivamente atualizadas com sucesso. E da forma mais apavorante possível! O filme do versátil diretor Rob Reiner (Antes de Partir) foi adaptada de um livro do Stephen King e nos apresentou a uma Kathy Bates tão delirantemente alucinada, que ela faturou o Oscar de Melhor Atriz por seu papel. Algo, diga-se, não muito comum em filmes de terror. Na trama, Bates é a enfermeira Annie, uma mulher solitária, devota de Deus e que é completamente apaixonada pela obra do escritor Paul Sheldon (James Caan), de quem se diz fã número 1. Por um daqueles "acasos" Annie Wilker será a pessoa que salvará Paul da morte após um acidente de carro, em um local isolado, em meio a uma nevasca. No chalé em que ela vive, tomará os primeiros cuidados para a recuperação de seu hóspede improvisado.
Só que o que inicialmente eram chazinhos, medicamentos e uma atenção quase maternal de Annie, vai aos poucos mudar de figura, quando ela começar a mostrar uma personalidade instável e intempestiva. Paul perceberá que se salvou da morte. Mas que as coisas não estão tão assim melhores. Tudo começa quando Annie passa a dar muitas desculpas sobre estradas fechadas (por causa da neve) e impossibilidade de fazer ligações telefônicas à longa distância. Sem poder falar com sua agente e seus familiares, o escritor se verá em uma espécie de prisão, em que o limite é a porta do quarto. E como se não bastasse a sensação de horror que parece aumentar a cada dia passado no local, tudo piora quando Annie descobre o manuscrito do último livro de Paul - que estava em sua bolsa. Autorizada a lê-lo, ela ficará completamente contrariada com o rumo dado a uma das personagens, na história. Bom, não é preciso dizer que o que já estava ruim, vai piorar.
Como se fosse uma mistura de Baby Jane (de O Que Terá Acontecido a Baby Jane?) com Norma Desmond (de Crepúsculo dos Deuses), a enfermeira obrigará o sujeito a permanecer em sua propriedade até que entregue um livro que esteja satisfatório para ela. Enquanto os delegados locais tentam buscar alguma pista do Paul, ele vai sofrendo nas mãos de Annie, com torturas psicológicas que vão desde a queima do livro que seria entregue à editora até chegar a agressões físicas, como na famosa cena da marreta. Aliás, eu não li o livro de King, mas posso dizer que Reiner é hábil em construir o clima de terror crescente, transformando até mesmo cenas prosaicas (e excêntricas) como a da aparição do porco de "estimação" de Annie, em sequências absurdamente angustiantes. O que é reforçado pela alternância de humor da algoz, capaz de ir do sorriso dissimulado à seriedade taciturna em segundos (e são essas pequenas inflexões que, a meu ver, valorizam ainda mais a caracterização de Bates que, realmente, está assombrosa).
Tecnicamente, o filme também é formidável. O uso de contra-plongées - aquele recurso em que vemos o personagem de baixo para cima - reforça bem o caráter monstruoso de Annie, que sempre parece maior do que é, ao passo que Paul, por estar numa cama, sempre surge como uma figura menor, amedrontada. O desenho de produção (e até mesmo o figurino) contribui para que acreditemos naquela casa como um espaço claustrofóbico, sufocante, com corredores apertados, mobília velha e decoração obsoleta. Tudo parece antiquado, anacrônico, o que dialoga com a personalidade retrógrada de Annie - uma mulher que crê em Deus e que não aceita um tipo e literatura que subverta a lógica das convenções, especialmente as religiosas (ela não gosta, por exemplo, dos palavrões que surgem no último livro). Todos esses detalhes contribuem para que estejamos permanentemente apreensivos. Tudo é imprevisível e até dolorido - há uma cena envolvendo o xerife (o ótimo Richard Farnsworth) da cidade que é de partir o coração. Louca Obsessão completa 30 anos de seu lançamento em novembro e segue assustando, com Kathy Bates permanecendo para sempre como uma das mais inesquecíveis vilãs da sétima arte. Vale recordar!
segunda-feira, 29 de junho de 2020
Picanha.doc - À Procura de Sugar Man (Searching For Sugar Man)
De: Malik Bandjelloul. Documentário, Reino Unido / Suécia, 2012, 86 minutos.
Se tivesse sido inventada por algum roteirista malucão de Hollywood, é bem provável que não acreditássemos na história REAL que assistimos no imprevisível, curioso e singelo documentário À Procura de Sugar Man (Searching For Sugar Man) - que faturou o Oscar em sua categoria na cerimônia de 2013. A gente já disse em postagens anteriores que a vida não tem absolutamente nenhum sentido e o filme de Malik Bandjelloul faz jus a essa ideia. Na trama somos apresentados ao talentoso cantor e compositor Sixto Rodriguez que, no começo dos anos 70, gravou dois discos sem muito sucesso, caindo pouco depois no ostracismo. Morador da cidade de Detroit, o sujeito de torna recluso, suscitando uma série de boatos e rumores - alguns deles absurdos, como aquele em que ele teria se suicidado em pleno palco, ateando fogo em si próprio. Um tipo de gesto de desespero, que funcionaria como uma reação iconoclasta à falta de reconhecimento pelo seu trabalho.
Tudo é muito nebuloso. Incerto. Em certa altura do documentário a história migra para a Cidade do Cabo, na África do Sul, onde Rodriguez se torna um ícone musical do tamanho - ou até maior - do que Bob Dylan ou Elvis Presley. Ninguém sabe ao certo como a música do cantor foi atravessar o oceano para chegar em outro continente, mas a melhor teoria é a de que alguém teria feito uma viagem aos Estados Unidos, tomado contato com um dos discos do artista e levado uma cópia junto consigo para a terra de Nelson Mandela. Tomada pela política do Apartheid, a África do Sul era um País muito fechado, conservador à época. Nesse sentido as músicas progressistas de Rodriguez, cheias de questionamentos ao status quo e às convenções sociais - ele era de uma família de proletários - caríram como bálsamo nos ouvidos da juventude. Ninguém sabia quem CACETA era aquele sujeito latino, de cabelos compridos, que se via na capa dos discos. Todos o amavam.
O filme narra como se formou a mitologia em torno da figura de Rodriguez em um local totalmente inusitado e distante de seu País de origem. As pessoas pensavam que ele estava morto. As histórias de suicídio em cima do palco pareciam convincentes. Até que um jornalista resolve ir atrás da verdade: ouve produtores, outros músicos, integrantes de gravadoras. E chega até a família de Rodriguez que, para surpresa geral da nação, ainda vive em Detroit, onde trabalha com construção civil. Convidado à ir a Cidade do Cabo, se depara com uma inacreditável comoção pública em torno de sua figura, que culminará em shows lotados, agendas repletas de entrevistas e muito carinho dos fãs não apenas direcionado a ele, mas a todos seus familiares. Rodriguez nunca "aconteceu" na América, a despeito de seu óbvio talento. Talvez tenha vendido meia dúzia de discos, ainda que as críticas à época tenham sido positivas. Foi encontrar seu público quase 30 anos depois. Além do oceano. Num desses inacreditáveis acasos.
Não bastasse ser uma obra misteriosa - o jeito como Rodriguez é adjetivado no começo do filme é ótimo, com direito à metáforas sobre as ruas de uma Detroit melancólica e cinzenta em que emerge uma figura sisuda, taciturna, que cantava de canto, de costas -, a película ainda presta uma linda homenagem ao poder transformador da arte, sendo praticamente impossível não se emocionar ao assistir as surpreendentes apresentações lotadas do "astro" na Cidade do Cabo. O carinho genuíno dos fãs com ele, as sessões de autógrafos, as tatuagens pelo corpo (!) exemplificam o magnetismo de representar uma geração inteira em suas pautas, a partir da força das letras urbanas, que evocam temas como liberdade de expressão e capacidade de pensar de forma diferente. É um tipo de road movie meio torto, que nos deixa com um sorriso no rosto e que nos desperta a curiosidade para a enxuta obra de Rodriguez, composta apenas pelos álbuns Cold Fact (1970) e Coming From Reality (1971). A boa notícia? Os trabalhos podem ser apreciados em plataformas como a Deezer, o que comprova que a obra do compositor está vivíssima. Assim como ele próprio que, aos 77 anos, segue trabalhando na construção - sem esquecer do amor dos fãs da África do Sul.
Se tivesse sido inventada por algum roteirista malucão de Hollywood, é bem provável que não acreditássemos na história REAL que assistimos no imprevisível, curioso e singelo documentário À Procura de Sugar Man (Searching For Sugar Man) - que faturou o Oscar em sua categoria na cerimônia de 2013. A gente já disse em postagens anteriores que a vida não tem absolutamente nenhum sentido e o filme de Malik Bandjelloul faz jus a essa ideia. Na trama somos apresentados ao talentoso cantor e compositor Sixto Rodriguez que, no começo dos anos 70, gravou dois discos sem muito sucesso, caindo pouco depois no ostracismo. Morador da cidade de Detroit, o sujeito de torna recluso, suscitando uma série de boatos e rumores - alguns deles absurdos, como aquele em que ele teria se suicidado em pleno palco, ateando fogo em si próprio. Um tipo de gesto de desespero, que funcionaria como uma reação iconoclasta à falta de reconhecimento pelo seu trabalho.
Tudo é muito nebuloso. Incerto. Em certa altura do documentário a história migra para a Cidade do Cabo, na África do Sul, onde Rodriguez se torna um ícone musical do tamanho - ou até maior - do que Bob Dylan ou Elvis Presley. Ninguém sabe ao certo como a música do cantor foi atravessar o oceano para chegar em outro continente, mas a melhor teoria é a de que alguém teria feito uma viagem aos Estados Unidos, tomado contato com um dos discos do artista e levado uma cópia junto consigo para a terra de Nelson Mandela. Tomada pela política do Apartheid, a África do Sul era um País muito fechado, conservador à época. Nesse sentido as músicas progressistas de Rodriguez, cheias de questionamentos ao status quo e às convenções sociais - ele era de uma família de proletários - caríram como bálsamo nos ouvidos da juventude. Ninguém sabia quem CACETA era aquele sujeito latino, de cabelos compridos, que se via na capa dos discos. Todos o amavam.
O filme narra como se formou a mitologia em torno da figura de Rodriguez em um local totalmente inusitado e distante de seu País de origem. As pessoas pensavam que ele estava morto. As histórias de suicídio em cima do palco pareciam convincentes. Até que um jornalista resolve ir atrás da verdade: ouve produtores, outros músicos, integrantes de gravadoras. E chega até a família de Rodriguez que, para surpresa geral da nação, ainda vive em Detroit, onde trabalha com construção civil. Convidado à ir a Cidade do Cabo, se depara com uma inacreditável comoção pública em torno de sua figura, que culminará em shows lotados, agendas repletas de entrevistas e muito carinho dos fãs não apenas direcionado a ele, mas a todos seus familiares. Rodriguez nunca "aconteceu" na América, a despeito de seu óbvio talento. Talvez tenha vendido meia dúzia de discos, ainda que as críticas à época tenham sido positivas. Foi encontrar seu público quase 30 anos depois. Além do oceano. Num desses inacreditáveis acasos.
Não bastasse ser uma obra misteriosa - o jeito como Rodriguez é adjetivado no começo do filme é ótimo, com direito à metáforas sobre as ruas de uma Detroit melancólica e cinzenta em que emerge uma figura sisuda, taciturna, que cantava de canto, de costas -, a película ainda presta uma linda homenagem ao poder transformador da arte, sendo praticamente impossível não se emocionar ao assistir as surpreendentes apresentações lotadas do "astro" na Cidade do Cabo. O carinho genuíno dos fãs com ele, as sessões de autógrafos, as tatuagens pelo corpo (!) exemplificam o magnetismo de representar uma geração inteira em suas pautas, a partir da força das letras urbanas, que evocam temas como liberdade de expressão e capacidade de pensar de forma diferente. É um tipo de road movie meio torto, que nos deixa com um sorriso no rosto e que nos desperta a curiosidade para a enxuta obra de Rodriguez, composta apenas pelos álbuns Cold Fact (1970) e Coming From Reality (1971). A boa notícia? Os trabalhos podem ser apreciados em plataformas como a Deezer, o que comprova que a obra do compositor está vivíssima. Assim como ele próprio que, aos 77 anos, segue trabalhando na construção - sem esquecer do amor dos fãs da África do Sul.
sexta-feira, 26 de junho de 2020
Tesouros Cinéfilos - Quero Ser John Malkovich (Being John Malkovich)
De: Spike Jonze. Com John Cusacj, Cameron Diaz, Catherine Keener, John Malkovich, Charlie Sheen e Octavia Spencer. Comédia dramática / Fantasia, EUA, 2000, 112 minutos.
Vamos combinar: a vida não tem NENHUM sentido e talvez seja por isso que assistir a Quero Ser John Malkovich (Being John Malkovich) continue sendo uma experiência tão legal. Aliás, eu sempre gastei muito tempo da minha existência tentando achar algum significado secreto na obra do diretor Spike Jonze (Ela) e quase esqueço da melhor parte, que é simplesmente relaxar e se divertir. É uma obra completamente nonsense, que beira quase o delírio! Que brinca aqui e ali com o deslumbramento que temos diante de astros e estrelas do cinema e, vá lá, com aquele sonho quase irreal de nos tornamos alguém famoso ou importante. De alcançar o sucesso. Ver o mundo a partir da mente do ator John Malkovich, após entrar num tipo de portal metafísico existente em um excêntrico prédio comercial tem um pouco disso. De escapar da loucura do mundo para entrar em uma outra "loucura", que existe num universo paralelo, impossível, mas, curiosamente, verossímil.
Na obra somos apresentados ao titereiro Craig (John Cusack), que passa o dia manipulando - com extrema perícia, diga-se -, bonecos em apresentações ao ar livre, na rua. Um tipo de profissão que não dá muito dinheiro e que dá conta de um paradoxo, já que o sujeito parece incapaz de conduzir com habilidade a própria vida. Sua esposa é a desengonçada Lotte (Cameron Diaz, quase irreconhecível), uma garota cheia de energia, que se ocupa de cuidar do verdadeiro zoológico que o casal tem em casa - de calopsita a macaco. Na pindaíba, Craig vai em busca de um trabalho como arquivista, que fica no andar sete e meio de um prédio. No local todos devem andar curvados. O chefe tem 105 anos de idade. Sua secretária parece não compreender as frases com exatidão. E há uma colega de trabalho que desperta a atenção do nosso protagonista: a charmosa Maxine (a sempre ótima Catherine Keener).
Num dia qualquer de trabalho, Craig deixa cair algumas pastas atrás de um armário contendo arquivos-mortos. Ao tentar remover o material de lá, a descoberta: uma portinhola de um por um metro. Curioso, entra no espaço. Apertado, estranhamente "arenoso". É sugado pra dentro. E vai parar na mente do ator John Malkovich. Onde passa a enxergar tudo do ponto de vista do astro de Ligações Perigosas. Ensaios de teatro, banhos, outras atividades corriqueiras. Durante quinze minutos. Até ser catapultado de volta para o nosso plano, em um matagal, ao lado de uma rodovia qualquer. Surpreso com a excentricidade do ocorrido, Craig conta a novidade para Maxine. Resolvem ganhar dinheiro vendendo "entradas" para sujeitos aleatórios dispostos a entrar na mente do ator. Lotte descobre. Interfere. Passa a se conectar com Maxine por meio da mente de John. O casal se desestabiliza. A confusão está formada. E nós estamos, do outro lado, maravilhados com esse absurdo tão sem sentido quanto divertido.
Quando foi lançado, Quero Ser John Malkovich suscitou uma série de reflexões psicológicas, filosóficas, existenciais de quem o assistia. Aliás, segue suscitando, como comprova qualquer busca aleatória pelo filme, no Google. Sim, o corpo pode ser uma prisão em que precisamos aprender a lidar, assim como somos incapazes de manipular aquilo que sentimos. Há todo um jogo envolvendo a arte de ser titereiro com a completa incapacidade de guiar a própria vida tendo, pior de tudo, consciência disso. Talvez esse seja um dos aspectos mais claros. Mas prefiro pensar na obra roteirizada por Charlie Kauffmann como uma despropositada e divertida peça hollywoodiana que brinca com as convenções do gênero comédia, para nos fazer rir do inusitado. E isso pode ser comprovado TAMBÉM em piadas isoladas, que vão desde a incapacidade dos demais personagens de dizerem um filme estrelado por John Malkovich ou mesmo a reação rápida de desprezo de Maxine ao descobrir a "profissão" anterior de Craig. Quando filmou a obra, Jonze já tinha gravado videoclipes para os Beastie Boys, Weezer e Sonic Youth. A real é como se fosse tudo pro liquidificador e resultasse nessa loucura fílimica em que uma série de referências são reconfiguradas e transformadas em um dos troços mais esquisitos já feitos na meca do cinema. E nós seguimos adorando!
Vamos combinar: a vida não tem NENHUM sentido e talvez seja por isso que assistir a Quero Ser John Malkovich (Being John Malkovich) continue sendo uma experiência tão legal. Aliás, eu sempre gastei muito tempo da minha existência tentando achar algum significado secreto na obra do diretor Spike Jonze (Ela) e quase esqueço da melhor parte, que é simplesmente relaxar e se divertir. É uma obra completamente nonsense, que beira quase o delírio! Que brinca aqui e ali com o deslumbramento que temos diante de astros e estrelas do cinema e, vá lá, com aquele sonho quase irreal de nos tornamos alguém famoso ou importante. De alcançar o sucesso. Ver o mundo a partir da mente do ator John Malkovich, após entrar num tipo de portal metafísico existente em um excêntrico prédio comercial tem um pouco disso. De escapar da loucura do mundo para entrar em uma outra "loucura", que existe num universo paralelo, impossível, mas, curiosamente, verossímil.
Na obra somos apresentados ao titereiro Craig (John Cusack), que passa o dia manipulando - com extrema perícia, diga-se -, bonecos em apresentações ao ar livre, na rua. Um tipo de profissão que não dá muito dinheiro e que dá conta de um paradoxo, já que o sujeito parece incapaz de conduzir com habilidade a própria vida. Sua esposa é a desengonçada Lotte (Cameron Diaz, quase irreconhecível), uma garota cheia de energia, que se ocupa de cuidar do verdadeiro zoológico que o casal tem em casa - de calopsita a macaco. Na pindaíba, Craig vai em busca de um trabalho como arquivista, que fica no andar sete e meio de um prédio. No local todos devem andar curvados. O chefe tem 105 anos de idade. Sua secretária parece não compreender as frases com exatidão. E há uma colega de trabalho que desperta a atenção do nosso protagonista: a charmosa Maxine (a sempre ótima Catherine Keener).
Num dia qualquer de trabalho, Craig deixa cair algumas pastas atrás de um armário contendo arquivos-mortos. Ao tentar remover o material de lá, a descoberta: uma portinhola de um por um metro. Curioso, entra no espaço. Apertado, estranhamente "arenoso". É sugado pra dentro. E vai parar na mente do ator John Malkovich. Onde passa a enxergar tudo do ponto de vista do astro de Ligações Perigosas. Ensaios de teatro, banhos, outras atividades corriqueiras. Durante quinze minutos. Até ser catapultado de volta para o nosso plano, em um matagal, ao lado de uma rodovia qualquer. Surpreso com a excentricidade do ocorrido, Craig conta a novidade para Maxine. Resolvem ganhar dinheiro vendendo "entradas" para sujeitos aleatórios dispostos a entrar na mente do ator. Lotte descobre. Interfere. Passa a se conectar com Maxine por meio da mente de John. O casal se desestabiliza. A confusão está formada. E nós estamos, do outro lado, maravilhados com esse absurdo tão sem sentido quanto divertido.
Quando foi lançado, Quero Ser John Malkovich suscitou uma série de reflexões psicológicas, filosóficas, existenciais de quem o assistia. Aliás, segue suscitando, como comprova qualquer busca aleatória pelo filme, no Google. Sim, o corpo pode ser uma prisão em que precisamos aprender a lidar, assim como somos incapazes de manipular aquilo que sentimos. Há todo um jogo envolvendo a arte de ser titereiro com a completa incapacidade de guiar a própria vida tendo, pior de tudo, consciência disso. Talvez esse seja um dos aspectos mais claros. Mas prefiro pensar na obra roteirizada por Charlie Kauffmann como uma despropositada e divertida peça hollywoodiana que brinca com as convenções do gênero comédia, para nos fazer rir do inusitado. E isso pode ser comprovado TAMBÉM em piadas isoladas, que vão desde a incapacidade dos demais personagens de dizerem um filme estrelado por John Malkovich ou mesmo a reação rápida de desprezo de Maxine ao descobrir a "profissão" anterior de Craig. Quando filmou a obra, Jonze já tinha gravado videoclipes para os Beastie Boys, Weezer e Sonic Youth. A real é como se fosse tudo pro liquidificador e resultasse nessa loucura fílimica em que uma série de referências são reconfiguradas e transformadas em um dos troços mais esquisitos já feitos na meca do cinema. E nós seguimos adorando!
Podcast do Picanha Cultural #9 - Destacamento Blood: Análise
Existem filmes tão relevantes, tão importantes na história do cinema - antigos ou atuais - que, certamente, merecerão um episódio exclusivo do Podcast do Picanha Cultural para uma análise um pouco mais detalhada do material. E desde que Destacamento Blood (Da 5 Bloods) foi lançado na Netflix a gente vinha sentindo isso. Nos bastidores da produção a gente se perguntava: será que não poderíamos falar apenas de um filme em um dos episódios? Dissecando-o, buscando um pouco mais de profundidade? A ideia não é ser definitivo sobre nada, mas o novo filme do Spike Lee - que deverá ser figurinha fácil no próximo Oscar -, nos pareceu a obra ideal para inaugurar esse formato. Não se trata apenas de um filme tecnicamente irretocável: há um roteiro extremamente bem conduzido, com uma narrativa impactante e sinuosa, que vai revelando aos poucos as suas temáticas - racismo, xenofobia, absurdo da guerra -, de forma bem amarrada, intrincada. Além de ser um ótimo drama, com boas doses de ação e de suspense! Bom, convidamos vocês a embarcar nessa jornada em que o Henrique, o Bernardo e eu nos aventuramos a analisar Destacamento Blood. Se vocês gostarem, certamente faremos com outros filmes!
quinta-feira, 25 de junho de 2020
Lado B Classe A - The National (High Violet)
(Texto publicado originalmente no Picanha em janeiro de 2015)
Poucas bandas surgidas nos anos 2000 conseguiram manter uma coesão - não apenas de estilo, mas também de qualidade sonora - como o The National. Não à toa, não é tarefa fácil escolher apenas um disco do grupo, oriundo de Cincinatti, Ohio, para ilustrar a nossa segunda edição do Lado B, Classe A. Quadro que, apenas para lembrar, tem o objetivo de apresentar a vocês alguns dos nossos discos modernos favoritos, especialmente aqueles lançados na última década, de bandas que não são assim tão conhecidas do grande público. E que já podem ser qualificados na categoria de "clássicos da atualidade". Esse recorte, é preciso que se diga, poderá ser bem distinto, como vocês verão mais adiante, já que por aqui poderão passar desde o Deerhunter até o Arcade Fire.
Na verdade, o primeiro álbum que ouvi da banda capitaneada por Matt Berninger foi o também já clássico Boxer (2007) que, para muitos fãs do grupo, se constitui no melhor trabalho. O fato é que foi paixão a primeira "ouvida". Aqueles versos ao mesmo tempo soturnos e carregados de melancolia, amparados por um instrumental acústico, cru - bem distante das firulas computadorizadas de outras bandas da mesma geração (alguém aí falou em Muse?) - me arrebataram. Ainda que claustrofóbico, o trabalho era (e ainda é, claro!) repleto de refrões grudentos, daqueles para ficar na cabeça ainda algumas horas e dias após as audições. Quem já escutou canções como Fake Empire e Green Gloves, pra citar apenas duas, sabe do que estou falando. Bom, na ocasião o álbum permaneceu no repeat durante toda a noite. Aliás, lavar a louça da janta poucas vezes foi tão prazeroso como daquela vez.
A audição do Boxer serviu de porta de entrada para outros discos. O álbum anterior, Alligator (2005), se não é tão coeso como o seguinte, é igualmente belo, possuindo ainda duas das melhores canções do grupo: Secret Meeting e The Geese of Beverly Road. O mesmo valendo para o mais recente trabalho dos caras, intitulado Trouble Will Find Me, de 2013. Mas foi com High Violet (2010), que o quinteto atingiu a sua plenitude artística - se é que possível que a sua trajetória seja descrita dessa maneira. Com um pouco mais de apuro na parte instrumental, muito por conta da riqueza de detalhes alcançada pela dupla de guitarristas Aaron e Bryce Desner, o disco mantém o clima perturbador ao projetar em seus versos problemas do homem moderno, especialmente os da seara amorosa.
Poucas bandas surgidas nos anos 2000 conseguiram manter uma coesão - não apenas de estilo, mas também de qualidade sonora - como o The National. Não à toa, não é tarefa fácil escolher apenas um disco do grupo, oriundo de Cincinatti, Ohio, para ilustrar a nossa segunda edição do Lado B, Classe A. Quadro que, apenas para lembrar, tem o objetivo de apresentar a vocês alguns dos nossos discos modernos favoritos, especialmente aqueles lançados na última década, de bandas que não são assim tão conhecidas do grande público. E que já podem ser qualificados na categoria de "clássicos da atualidade". Esse recorte, é preciso que se diga, poderá ser bem distinto, como vocês verão mais adiante, já que por aqui poderão passar desde o Deerhunter até o Arcade Fire.
Na verdade, o primeiro álbum que ouvi da banda capitaneada por Matt Berninger foi o também já clássico Boxer (2007) que, para muitos fãs do grupo, se constitui no melhor trabalho. O fato é que foi paixão a primeira "ouvida". Aqueles versos ao mesmo tempo soturnos e carregados de melancolia, amparados por um instrumental acústico, cru - bem distante das firulas computadorizadas de outras bandas da mesma geração (alguém aí falou em Muse?) - me arrebataram. Ainda que claustrofóbico, o trabalho era (e ainda é, claro!) repleto de refrões grudentos, daqueles para ficar na cabeça ainda algumas horas e dias após as audições. Quem já escutou canções como Fake Empire e Green Gloves, pra citar apenas duas, sabe do que estou falando. Bom, na ocasião o álbum permaneceu no repeat durante toda a noite. Aliás, lavar a louça da janta poucas vezes foi tão prazeroso como daquela vez.
A audição do Boxer serviu de porta de entrada para outros discos. O álbum anterior, Alligator (2005), se não é tão coeso como o seguinte, é igualmente belo, possuindo ainda duas das melhores canções do grupo: Secret Meeting e The Geese of Beverly Road. O mesmo valendo para o mais recente trabalho dos caras, intitulado Trouble Will Find Me, de 2013. Mas foi com High Violet (2010), que o quinteto atingiu a sua plenitude artística - se é que possível que a sua trajetória seja descrita dessa maneira. Com um pouco mais de apuro na parte instrumental, muito por conta da riqueza de detalhes alcançada pela dupla de guitarristas Aaron e Bryce Desner, o disco mantém o clima perturbador ao projetar em seus versos problemas do homem moderno, especialmente os da seara amorosa.
As letras são um verdadeiro espetáculo a parte. A abertura, com Terrible Love, utiliza uma metáfora ao comparar um amor complicado com o fato de se estar "caminhando com aranhas". As tristezas estão por todo o canto. Em Sorrow, Berninger lamenta: I live in a city sorrow built / It's in my honey, it´s in my milk. Já em Afraid of Everyone, a fuga, com base em medos cotidianos é tema: With my kid on my shoulders, I'll try / Not to hurt anybody I like. Os lamentos sussurrados, cantados de forma arrastada e melancólica, quase tornam "visível" a figura de um homem que sofre de amor, em algum subúrbio, enquanto entorna goles e mais goles de algum whisky barato. O disco não recebeu nota 8,7 do conhecido site Pitchfork à toa - recebendo na ocasião o selo de Best New Music. E nós, aqui do Picanha, o reconhecemos como um legítimo exemplar Lado B, Classe A.
quarta-feira, 24 de junho de 2020
Grandes Filmes Nacionais - Estômago
De: Marcos Jorge. Com João Miguel, Fabiula Nascimento, Babu Santana, Carlo Briani e Paulo Miklos. Comédia / Drama, Brasil, 2007, 108 minutos.
"A minha arte é a gastronomia, é dessa alquimia que eu transformo o meu mundo". A frase atribuída ao chef de cozinha Maxwell Di Manno tem absolutamente tudo a ver com o filme Estômago, do diretor Marcos Jorge. Afinal, arte e boa comida se misturam nessa obra que prova a capacidade transformadora do domínio da boa cozinha - seus pratos, ingredientes, utensílios. Os mais antigos brincavam sobre terem sido "conquistados pelo estômago" na hora da escolha de seus pares. Você já ouviu essa frase de algum parente, algum conhecido. E ela faz todo o sentido. Cozinhar é uma alquimia. Um tipo de mágica quase divina. Que modifica completamente a existência de Raimundo Nonato (João Miguel), protagonista da obra. Nonato é um sujeito pobre, de origem nordestina, que vai parar no subúrbio de uma grande cidade em busca de trabalho: perambula pela noite, até parar num boteco daqueles que vendem pasteis e coxinhas banhentas. Está com fome, sem lugar pra dormir. De forma truncada oferece serviço em troca de comida. De uma cama.
Com idas e vindas no tempo, o filme nos faz perceber que Nonato está, atualmente, preso. A trucagem narrativa nos levará, mais tarde, a entender o que de fato aconteceu. Na prisão, o rapaz é um sujeito qualquer. Dorme no chão misturado com outros presos, come a gororoba oferecida aos detentos pelo Estado. Mas numa conversa prosaica anuncia que sabe cozinhar. Que com ingredientes simples como alho, cebola e alecrim pode fazer a mágica acontecer. Os demais presos mexem os pauzinhos - especialmente Bujiú (Babu Santana, que recentemente integrou o "elenco" do BBB), o líder da gangue (ou da cela) local. Nonato começa a cozinhar. Ganha o respeito dos demais. Galga posições na hierarquia do presídio, passa a dormir em uma cama, com colchão e tudo. Quanto mais elaborados forem os pratos, mais saborosas forem as misturas, maior ele será. Todo mundo gosta de comer bem, afinal - dos presos de Bangú aos grandes empresários paulistanos.
E, comer bem não tem a ver com gastronomia chique: tem a ver com ingredientes. Um feijão pode ser completamente diferente em mãos diferentes. Ou uma coxinha. Quando chega no bar do seu Zulmiro (Zeca Cenovicz) para trabalhar, Nonato aprende a fazer a iguaria típica de dez entre dez botecos. Mas imprime a sua "personalidade" a ela, por mais imundo e decadente que seja o local. A comida atrai a atenção, a freguesia aumenta. Entre os frequentadores está Giovani (Carlo Briani), dono de um restaurante chique que se admira com a qualidade da coxinha feita por Nonato. O chama pra trabalhar com ele. E é lá que o retirante nordestino adquire, definitivamente, a experiência que lhe eleva toda a moral na prisão. Menos inseguro, ele se aproximará da prostituta Íria (Fabiula Nascimento). Se apaixonará por ela. A desejará perdidamente. Um tipo de desejo carnal, quase instintivo, selvagem. Sexo e comida desvairadamente misturados, combinados. Prazeres. Que nos corrompem. Nos confundem. Corpos e carnes e sangues e vísceras. E fúrias.
Até chegar onde quer chegar o filme é um combo divertido que não deixa de denunciar os contrastes sociais - os diálogos entre Nonato e Giovani são impagáveis -, ampliando a sensação de suspense que culminará em uma espécie de "banquete final". Na prisão, Nonato passa a receber o apelido de Alecrim, em referência ao ingrediente tão utilizado. Sob essa alcunha cozinhará até as formigas da cela - um tipo de "iguaria" típica da Colômbia. O que resultará em sequências inusitadas. Mas, ainda assim, o que está em jogo na obra de Jorge é, de fato, o poder da gastronomia. Foi assim no decorrer das eras, na história - com o domínio do fogo, da agricultura, da capacidade de usar objetos. Foi assim que o homem evoluiu. Se desenvolveu. Aconteceu com Nonato, que explorou da melhor (e da pior) forma o seu aprendizado nesse filme que, não por acaso, é o 74º melhor da história, de acordo com a lista elaborada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).
"A minha arte é a gastronomia, é dessa alquimia que eu transformo o meu mundo". A frase atribuída ao chef de cozinha Maxwell Di Manno tem absolutamente tudo a ver com o filme Estômago, do diretor Marcos Jorge. Afinal, arte e boa comida se misturam nessa obra que prova a capacidade transformadora do domínio da boa cozinha - seus pratos, ingredientes, utensílios. Os mais antigos brincavam sobre terem sido "conquistados pelo estômago" na hora da escolha de seus pares. Você já ouviu essa frase de algum parente, algum conhecido. E ela faz todo o sentido. Cozinhar é uma alquimia. Um tipo de mágica quase divina. Que modifica completamente a existência de Raimundo Nonato (João Miguel), protagonista da obra. Nonato é um sujeito pobre, de origem nordestina, que vai parar no subúrbio de uma grande cidade em busca de trabalho: perambula pela noite, até parar num boteco daqueles que vendem pasteis e coxinhas banhentas. Está com fome, sem lugar pra dormir. De forma truncada oferece serviço em troca de comida. De uma cama.
Com idas e vindas no tempo, o filme nos faz perceber que Nonato está, atualmente, preso. A trucagem narrativa nos levará, mais tarde, a entender o que de fato aconteceu. Na prisão, o rapaz é um sujeito qualquer. Dorme no chão misturado com outros presos, come a gororoba oferecida aos detentos pelo Estado. Mas numa conversa prosaica anuncia que sabe cozinhar. Que com ingredientes simples como alho, cebola e alecrim pode fazer a mágica acontecer. Os demais presos mexem os pauzinhos - especialmente Bujiú (Babu Santana, que recentemente integrou o "elenco" do BBB), o líder da gangue (ou da cela) local. Nonato começa a cozinhar. Ganha o respeito dos demais. Galga posições na hierarquia do presídio, passa a dormir em uma cama, com colchão e tudo. Quanto mais elaborados forem os pratos, mais saborosas forem as misturas, maior ele será. Todo mundo gosta de comer bem, afinal - dos presos de Bangú aos grandes empresários paulistanos.
E, comer bem não tem a ver com gastronomia chique: tem a ver com ingredientes. Um feijão pode ser completamente diferente em mãos diferentes. Ou uma coxinha. Quando chega no bar do seu Zulmiro (Zeca Cenovicz) para trabalhar, Nonato aprende a fazer a iguaria típica de dez entre dez botecos. Mas imprime a sua "personalidade" a ela, por mais imundo e decadente que seja o local. A comida atrai a atenção, a freguesia aumenta. Entre os frequentadores está Giovani (Carlo Briani), dono de um restaurante chique que se admira com a qualidade da coxinha feita por Nonato. O chama pra trabalhar com ele. E é lá que o retirante nordestino adquire, definitivamente, a experiência que lhe eleva toda a moral na prisão. Menos inseguro, ele se aproximará da prostituta Íria (Fabiula Nascimento). Se apaixonará por ela. A desejará perdidamente. Um tipo de desejo carnal, quase instintivo, selvagem. Sexo e comida desvairadamente misturados, combinados. Prazeres. Que nos corrompem. Nos confundem. Corpos e carnes e sangues e vísceras. E fúrias.
Até chegar onde quer chegar o filme é um combo divertido que não deixa de denunciar os contrastes sociais - os diálogos entre Nonato e Giovani são impagáveis -, ampliando a sensação de suspense que culminará em uma espécie de "banquete final". Na prisão, Nonato passa a receber o apelido de Alecrim, em referência ao ingrediente tão utilizado. Sob essa alcunha cozinhará até as formigas da cela - um tipo de "iguaria" típica da Colômbia. O que resultará em sequências inusitadas. Mas, ainda assim, o que está em jogo na obra de Jorge é, de fato, o poder da gastronomia. Foi assim no decorrer das eras, na história - com o domínio do fogo, da agricultura, da capacidade de usar objetos. Foi assim que o homem evoluiu. Se desenvolveu. Aconteceu com Nonato, que explorou da melhor (e da pior) forma o seu aprendizado nesse filme que, não por acaso, é o 74º melhor da história, de acordo com a lista elaborada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).
terça-feira, 23 de junho de 2020
Novidades em Streaming - Neil Young (Disco)
Finalmente um disco do Neil Young para os fãs chamarem de "seu". Sim, porque por mais que as intenções de trabalhos recentes como The Monsanto Years (2015) ou Colorado (2019) fossem nobres, o que se sobressaia era um artista que parecia repetir fórmulas num country excessivamente autocomiserativo e cansado. Em Homegrown, não. A diferença é que este pode ser considerado um tipo de registro "perdido" do canadense que, em 1974, foi praticamente abandonado após a gravadora Reprise ter se mostrado bastante insatisfeita com os resultados alcançados pelo melancólico e sombrio On The Beach (1974). Resgatado das cinzas - foi gravado em um chatô em algumas noites bêbadas de Los Angeles -, o álbum se revela como uma experiência taciturna e ensolarada em igual medida, capaz de equilibrar momentos mais introspectivos, como na abertura com Separate Ways, com outros mais otimistas, caso de Try. É um Neil Young que evoca tempos de Zuma (1974) e de Comes a Time (1978), duas das obras-primas que estão entre as favoritas, para lembrar que o veterano de 74 anos ainda sabe brincar de fazer clássico.
Pérolas da Netflix - Quatro Minutos (Vier Minuten)
De: Chris Klaus. Com Hannah Herzprung, Monica Bleibtreau, Sven Pippig e Stefan Kurt. Drama, Alemanha, 2006, 112 minutos.
De um lado uma professora de piano. Figura sisuda, de poucas palavras. De outro, uma jovem detenta em um presídio feminino. Uma pessoa intempestiva, imprevisível, violenta. Em comum entre as duas: a paixão pela música. Paixão, talvez, adormecida. Mas que emergirá a superfície de forma meio "torta", a partir do encontro de ambas. Quatro Minutos (Vier Minuten) é uma obra sobre busca de sentido na vida a partir das artes - e que passa raspando por temas como ressocialização de presos, traumas de guerra e superação de dificuldades. A pessoa que está presa é Jenny (Hannah Herzprung), uma assassina que não parece ter qualquer remorso em relação à violência praticada. Mas ela tem uma surpreendente habilidade para o piano, cabendo a veterana professora octogenária Traude (Monica Bleibtreau) a tarefa de "domar a fera": e de ainda tentar levá-la para um concurso de talentos da música. O que significará enfrentar traumas, reviver memórias, tirar esqueletos do armário.
Trata-se de um filme alemão extremamente bem conduzido. A narrativa linear não significa obviedades. Pelo contrário: desde o começo da película nos deparamos com rimas visuais e outras figuras que servem para dar conta das circunstâncias que envolvem às personagens que acompanharemos nas próximas duas horas (caso da cena com peixes que lutam para sobreviver fora de um aquário). Quando Jenny toca o piano pela primeira vez, a câmera lenta parece fazer o som se espalhar de forma mais evocativa, intensa: é uma trilha sonora selvagem, inquieta, urgente, bem ao estilo da personalidade que a conduz. Nesse instante, a presa acaba de atacar um policial que lhe provocava - o ótimo Mütze (Sven Pippig). É a deixa para que saibamos que música bem tocada se mistura com fúria assassina, descabida, sem lógica. Traude caminha pelo presídio, desce uma escada. Sua expressão é de horror e preocupação: o trabalho vai ser árduo.
Mas como acontece em filmes desse estilo, haverá conquistas - e o carisma e a química da dupla central fará com que celebremos cada uma delas. Às turras, Jenny vencerá a primeira etapa de um show de talentos meio aleatório (com uma mão nas costas, é bom que se diga). Assim, perceberemos que o piano fez parte da sua infância e de parte de sua juventude, estando diretamente relacionado à traumas do passado. Por meio de flashbacks, retornaremos à Segunda Guerra Mundial, descobrindo que Traude, a professora, também tem abalos emocionais do passado, o que envolve inclusive um segredo. Nesse sentido, não demorará para que percebamos que ambas as protagonistas - professora e e aluna - possuem muito mais coisas em que comum do que parece, a despeito da grane diferença entre elas. Andar à margem da sociedade, afinal, parece algo que prescinde de idade: e essas pequenas descobertas estreitarão os laços entre elas. O que gerará, inclusive, sequências bonitas como aquela em que ambas dançam juntas.
Sim, trata-se de uma película que equilibra raiva e sensibilidade, intensidade e introspecção. Nada será fácil e quase tudo ocorrerá em meio à beligerância de um presídio e da violência emanada pelo local - que pode partir de diretores, de policiais ou até de outros detentos. Acreditar que seja possível reabilitar alguém a partir das artes também é um dos méritos do filme. Mas qual o limite que separa uma artista de uma assassina? A sociedade estará disposta a acolher um talento da música que tenha cometido um crime? Ou dependerá da natureza deste? Com ótima execução técnica - a fotografia granulada, meio esmaecida sempre causa uma sensação de "urgência urbana" meio difícil de definir -, o filme ainda conta com as boas interpretações como um de seus trunfos. E certamente o filme não seria tão legal se nós não nos comovêssemos junto com a dupla central, a cada avanço, cada risada, ou cada choro juntos. Perdidinho lá na Netflix, Quatro Minutos fica quase discreto demais. Mas quem encontra ele, se encanta como se estivesse diante de uma furiosa peça musical tocada com intensidade e fúria.
De um lado uma professora de piano. Figura sisuda, de poucas palavras. De outro, uma jovem detenta em um presídio feminino. Uma pessoa intempestiva, imprevisível, violenta. Em comum entre as duas: a paixão pela música. Paixão, talvez, adormecida. Mas que emergirá a superfície de forma meio "torta", a partir do encontro de ambas. Quatro Minutos (Vier Minuten) é uma obra sobre busca de sentido na vida a partir das artes - e que passa raspando por temas como ressocialização de presos, traumas de guerra e superação de dificuldades. A pessoa que está presa é Jenny (Hannah Herzprung), uma assassina que não parece ter qualquer remorso em relação à violência praticada. Mas ela tem uma surpreendente habilidade para o piano, cabendo a veterana professora octogenária Traude (Monica Bleibtreau) a tarefa de "domar a fera": e de ainda tentar levá-la para um concurso de talentos da música. O que significará enfrentar traumas, reviver memórias, tirar esqueletos do armário.
Trata-se de um filme alemão extremamente bem conduzido. A narrativa linear não significa obviedades. Pelo contrário: desde o começo da película nos deparamos com rimas visuais e outras figuras que servem para dar conta das circunstâncias que envolvem às personagens que acompanharemos nas próximas duas horas (caso da cena com peixes que lutam para sobreviver fora de um aquário). Quando Jenny toca o piano pela primeira vez, a câmera lenta parece fazer o som se espalhar de forma mais evocativa, intensa: é uma trilha sonora selvagem, inquieta, urgente, bem ao estilo da personalidade que a conduz. Nesse instante, a presa acaba de atacar um policial que lhe provocava - o ótimo Mütze (Sven Pippig). É a deixa para que saibamos que música bem tocada se mistura com fúria assassina, descabida, sem lógica. Traude caminha pelo presídio, desce uma escada. Sua expressão é de horror e preocupação: o trabalho vai ser árduo.
Mas como acontece em filmes desse estilo, haverá conquistas - e o carisma e a química da dupla central fará com que celebremos cada uma delas. Às turras, Jenny vencerá a primeira etapa de um show de talentos meio aleatório (com uma mão nas costas, é bom que se diga). Assim, perceberemos que o piano fez parte da sua infância e de parte de sua juventude, estando diretamente relacionado à traumas do passado. Por meio de flashbacks, retornaremos à Segunda Guerra Mundial, descobrindo que Traude, a professora, também tem abalos emocionais do passado, o que envolve inclusive um segredo. Nesse sentido, não demorará para que percebamos que ambas as protagonistas - professora e e aluna - possuem muito mais coisas em que comum do que parece, a despeito da grane diferença entre elas. Andar à margem da sociedade, afinal, parece algo que prescinde de idade: e essas pequenas descobertas estreitarão os laços entre elas. O que gerará, inclusive, sequências bonitas como aquela em que ambas dançam juntas.
Sim, trata-se de uma película que equilibra raiva e sensibilidade, intensidade e introspecção. Nada será fácil e quase tudo ocorrerá em meio à beligerância de um presídio e da violência emanada pelo local - que pode partir de diretores, de policiais ou até de outros detentos. Acreditar que seja possível reabilitar alguém a partir das artes também é um dos méritos do filme. Mas qual o limite que separa uma artista de uma assassina? A sociedade estará disposta a acolher um talento da música que tenha cometido um crime? Ou dependerá da natureza deste? Com ótima execução técnica - a fotografia granulada, meio esmaecida sempre causa uma sensação de "urgência urbana" meio difícil de definir -, o filme ainda conta com as boas interpretações como um de seus trunfos. E certamente o filme não seria tão legal se nós não nos comovêssemos junto com a dupla central, a cada avanço, cada risada, ou cada choro juntos. Perdidinho lá na Netflix, Quatro Minutos fica quase discreto demais. Mas quem encontra ele, se encanta como se estivesse diante de uma furiosa peça musical tocada com intensidade e fúria.
segunda-feira, 22 de junho de 2020
Livro do Mês - Ruído Branco (Don Delillo)
Em tempos de internet, de pós-verdade e de mudanças climáticas não deixa de ser impressionante o quanto Ruído Branco - obra lançada em 1985 por Don Delillo -, se mantém atual. Trata-se de uma distopia literária que equilibra fluência textual com a sofisticação de seus temas, que podem saltar da paranoia governamental e da participação da mídia na vida em sociedade até chegar ao medo da morte. Aliás, o medo do fim é peça central da narrativa, tanto que Jack e sua esposa Babette costumam fazer uma brincadeira sobre quem deve morrer primeiro entre os dois. Eles moram em uma pequena cidade de nome Blacksmith, que funciona como qualquer pequena cidade norte-americana em que a classe média se comporta de forma exibicionista em meio a padrões sociais pré-estabelecidos e convenções bastante adequadas ao american way of life. Jack e Babette possuem filhos de casamentos anteriores, se alimentam, trabalham, vão ao supermercado, subsistem. Buscam e levam as crianças na escola. "Enfrentam" o dia a dia. Acordam ansiosos. Em crise. No meio da madrugada - como no caso de Jack, que já passou dos 50 anos. E que passa a encarar a finitude como uma possibilidade real.
A situação se torna realmente tensa quando nos arredores da cidade ocorre um vazamento químico que forma uma nuvem tóxica, obrigando todas as famílias da região a deixarem suas casas, migrando para uma espécie de acampamento improvisado. Ainda não é possível determinar o risco real do acidente radioativo: recomenda-se manter distância da poeira. Jack, Babette e as crianças vão para o local indicado. Ouvem no rádio as informações desencontradas, que geram mais incertezas. Aliás, as notícias mudam o tempo todo, inclusive do ponto de vista da nomenclatura com a "pluma de fumaça" passando para "nuvem negra" sem muita explicação. Niodene D é a substância. Qual o mal que faz? Tonturas? Vômitos? Confusão mental? Mal estar? Está presente em outros produtos? Qual o tempo que podemos ficar em contato com a radiação sem sermos prejudicados? Muitas dúvidas, poucas respostas. Jack para o carro pra abastecer. Acaba por ter contato com a nuvem. Por dois minutos. Estará fadado a morte? Terá se intoxicado? Setores do governo coletam seus dados, adicionam as informações ao sistema. É cedo para saber. Fica somente o medo de morrer.
Diferentemente de outras distopias da literatura e até do cinema catástrofe, aqui não veremos uma população empenhada em sobreviver a um evento em si, mas sim as consequências dele. É mais ou menos aquilo que acontece no filme sueco Força Maior, onde escapar de uma avalanche não é exatamente o problema em si. O problema está naquilo que vem depois. Em quem fica e sobrevive. E em COMO sobrevive. Em Ruído Branco a família volta para casa no dia seguinte ao acidente que gera a nuvem tóxica. Mas há algo no ar. Algum estranhamento. Dúvidas sobre o futuro, sobre a existência. Como efeito colateral da radioatividade, as pessoas passam a sentir deja vús. O futuro já visto se "colando" com a realidade? E quando Jack descobre que Babette esconde em um compartimento da casa em que moram, um misterioso medicamento, tudo se torna pior. Babette sempre foi uma mulher leve, divertida, expansiva. Anda sisuda, introspectiva, reflexiva. As coisas têm mudado. Os tempos são outros. O futuro é incerto, perturbador.
Delillo constrói a obra inserindo nela uma série de questões que colocam realidade e imaginação divididos por uma linha muito tênue. Na Universidade, Jack dá aula sobre hitlerismo. Um de seus passatempos preferidos é ir ao supermercado, de preferência na companhia do excêntrico amigo Murray - figura cheia de boas tiradas, que integra o departamento de Cultura, como professor visitante. Há outras peças nesses quebra-cabeças, como um professor de alemão, um homem cego, uma pesquisadora de bioquímica. Todos trafegando nesse universo em que conversas prosaicas na cozinha sobre o jantar a ser feito, se misturam com o barulho da TV que insiste em fazer propaganda daquele novo e revolucionário produto. Viver, consumir, morrer. Um tratado filosófico e existencialista sobre nossos medos, anseios e inseguranças e sobre como podemos tentar enfrentá-los. Ao misturar ficção científica, com distopia futurista, Delillo fala muito mais dos tempos atuais que vivemos, do que qualquer outra coisa. Somos figuras complexas, navegando em um mundo de distrações: inseguras, impotentes, tentando superar frustrações. E a magia do livro se faz na simplicidade de misturar comédia de situação cheia de comentários sociais familiares (e populares), com a imprevisibilidade daquilo que mais parece retirado de um bom episódio de Black Mirror. O resultado é grande, como não poderia deixar de ser.
A situação se torna realmente tensa quando nos arredores da cidade ocorre um vazamento químico que forma uma nuvem tóxica, obrigando todas as famílias da região a deixarem suas casas, migrando para uma espécie de acampamento improvisado. Ainda não é possível determinar o risco real do acidente radioativo: recomenda-se manter distância da poeira. Jack, Babette e as crianças vão para o local indicado. Ouvem no rádio as informações desencontradas, que geram mais incertezas. Aliás, as notícias mudam o tempo todo, inclusive do ponto de vista da nomenclatura com a "pluma de fumaça" passando para "nuvem negra" sem muita explicação. Niodene D é a substância. Qual o mal que faz? Tonturas? Vômitos? Confusão mental? Mal estar? Está presente em outros produtos? Qual o tempo que podemos ficar em contato com a radiação sem sermos prejudicados? Muitas dúvidas, poucas respostas. Jack para o carro pra abastecer. Acaba por ter contato com a nuvem. Por dois minutos. Estará fadado a morte? Terá se intoxicado? Setores do governo coletam seus dados, adicionam as informações ao sistema. É cedo para saber. Fica somente o medo de morrer.
Diferentemente de outras distopias da literatura e até do cinema catástrofe, aqui não veremos uma população empenhada em sobreviver a um evento em si, mas sim as consequências dele. É mais ou menos aquilo que acontece no filme sueco Força Maior, onde escapar de uma avalanche não é exatamente o problema em si. O problema está naquilo que vem depois. Em quem fica e sobrevive. E em COMO sobrevive. Em Ruído Branco a família volta para casa no dia seguinte ao acidente que gera a nuvem tóxica. Mas há algo no ar. Algum estranhamento. Dúvidas sobre o futuro, sobre a existência. Como efeito colateral da radioatividade, as pessoas passam a sentir deja vús. O futuro já visto se "colando" com a realidade? E quando Jack descobre que Babette esconde em um compartimento da casa em que moram, um misterioso medicamento, tudo se torna pior. Babette sempre foi uma mulher leve, divertida, expansiva. Anda sisuda, introspectiva, reflexiva. As coisas têm mudado. Os tempos são outros. O futuro é incerto, perturbador.
Delillo constrói a obra inserindo nela uma série de questões que colocam realidade e imaginação divididos por uma linha muito tênue. Na Universidade, Jack dá aula sobre hitlerismo. Um de seus passatempos preferidos é ir ao supermercado, de preferência na companhia do excêntrico amigo Murray - figura cheia de boas tiradas, que integra o departamento de Cultura, como professor visitante. Há outras peças nesses quebra-cabeças, como um professor de alemão, um homem cego, uma pesquisadora de bioquímica. Todos trafegando nesse universo em que conversas prosaicas na cozinha sobre o jantar a ser feito, se misturam com o barulho da TV que insiste em fazer propaganda daquele novo e revolucionário produto. Viver, consumir, morrer. Um tratado filosófico e existencialista sobre nossos medos, anseios e inseguranças e sobre como podemos tentar enfrentá-los. Ao misturar ficção científica, com distopia futurista, Delillo fala muito mais dos tempos atuais que vivemos, do que qualquer outra coisa. Somos figuras complexas, navegando em um mundo de distrações: inseguras, impotentes, tentando superar frustrações. E a magia do livro se faz na simplicidade de misturar comédia de situação cheia de comentários sociais familiares (e populares), com a imprevisibilidade daquilo que mais parece retirado de um bom episódio de Black Mirror. O resultado é grande, como não poderia deixar de ser.
sexta-feira, 19 de junho de 2020
Podcast do Picanha Cultural #8 - Cinema Brasileiro: Algumas Dicas
É uma data que passa meio batida, mas não para os cinéfilos que acompanham o Picanha: 19 de junho é oficialmente o Dia do Cinema Brasileiro. Então, a gente aproveitou o ensejo pra fazer um episódio em que estacamos a produção de nosso País. A ideia foi deixar um pouco de lado obras mais conhecidas, pra lembrar a todos que nos acompanham que existe vida para além de Tropa de Elite (2007), Cidade de Deus (2002) e Bacurau (2019). Quantos filmes brasileiros você viu no último ano? E quantos filmes brasileiros que não tinham o Paulo Gustavo ou a Ingrid Guimarães? De clássicos como Eles Não Usam Black Tie (1982) até atuais, como o movimentado 2 Coelhos (2012), o Bernardo, o Henrique e este jornalista que vos tecla entregam um recorte pequeníssimo da nossa produção - e que pode servir como ponto de partida para o ato realmente patriótico de valorizar a nossa cultura. Esperamos que gostem!
Picanha em Série - The Leftovers (1-3 Temporadas)
De: Damon Lindeloff e Tom Perrotta. Com Justin Theroux, Carrie Coon, Ann Dowd, Liv Tyler, Amy Brenneman, Scott Glenn e Christopher Eccleston. Drama, EUA, 2015 a 2017, 60 minutos (média de tempo do episódio).
The Leftovers é, seguramente, uma das melhores séries que já assisti - se colocando ao lado de Breaking Bad, Bates Motel, This Is Us e outras preferidas. Só que teve um problema: assistir a ela na quarentena, em meio à pandemia, não me fez muito bem. Explico: ainda que sejam apenas três temporadas distribuídas em 28 episódios, há uma forte carga dramática e uma densidade narrativa poucas vezes vista, numa trama que discute fanatismo religioso, conceitos de família, percepção da morte como uma possibilidade REAL e como os traumas mexem conosco. Tudo começa com um evento meio "enigmático", que envolve o desaparecimento repentino de 2% da população mundial - cerca de 140 milhões de pessoas ao redor do mundo, no dia 14 de outubro de 2011. Arrebatamento bíblico que levou os verdadeiros cristãos para perto de Deus no fim dos tempos? Evento sobrenatural inexplicável? Invasão alienígena? Não há respostas. E não haverá respostas, bem sinceramente. Mas muitas pessoas ficaram. E tentarão restabelecer alguma "normalidade" dali para frente.
Entre os que ficaram está o policial Kevin Garvey (Justin Theroux) e a funcionária governamental Nora Durst (Carrie Coon). Os dois, de alguma forma, tiveram perdas por ocasião da "partida repentina". A situação mais dramática é a de Nora: naquele dia 14, em meio a um dia qualquer na cozinha, em que as crianças faziam baderna, enquanto o marido se mantinha alheio, viu todos sumirem de uma vez. Toda a família. Os dois filhos e o marido. Já Kevin não viu nenhum desaparecimento físico acontecer, mas perde a sua esposa Laurie (Amy Brenneman) para uma espécie de culto misterioso, que se autodenomina de Remanescentes Culpados - coletivo em que todos utilizam roupas brancas, não se manifestam com palavras e passam os dias tentanto cooptar novos membros, enquanto fumam carteiras e mais carteiras de cigarros. Pra piorar, um de seus filhos resolve seguir uma espécie de guru espiritual, enquanto sua filha também parece meio perdida a partir do ocorrido.
E é a partir da história de Kevin que a gente percebe que The Leftovers é muito mais sobre quem ficou, do que sobre quem foi. Sem fornecer muitas explicações para o fatídico evento, a narrativa centra suas forças na permanente tentativa de simplesmente subsistir, prosseguir, em meio a questionamentos de crenças, dúvidas sobre o futuro e incertezas meio generalizadas. Irmão de Nora, Matt (o ótimo Christopher Eccleston) é um reverendo que não acredita na teoria do "arrebatamento", afinal, muitos dos desaparecidos eram bandidos, pecadores, prostitutas, chantagistas ou, simpelsmente, maus cristãos. A primeira temporada de alguma forma apresenta estes conflitos em que Igreja se coloca em choque com a sociedade civil, enquanto novos grupos religiosos se esforçam para jogar alguma luz sobre os eventos. Mas, é preciso que se diga: a força da série não está na grandiosidade de acontecimentos supostamente bíblicos e sim no que ocorre na intimidade de cada um daqueles personagens, que trafegam em suas existências num misto de incerteza quanto ao futuro e de incapacidade de seguir adiante.
A segunda temporada apresenta um interessantíssimo arco narrativo, ao migrar a história para uma pequena cidade de pouco mais de 9 mil habitantes do Texas - onde mais? -, em que ninguém foi arrebatado. Chamado de Miracle, o local passa a ser frequentado por peregrinos, fanáticos religiosos que parecem aguardar algum tipo de intervenção divina - especialmente em épocas de aniversário do incidente. Há novos personagens, novos mistérios, novos sumiços, que serão, em partes, amarrados na terceira temporada - isso por que a série não apresenta respostas definitivas para nada. E talvez seja isso que a torne tão fascinante porque tudo parece tão passível de alguma explicação quanto duvidoso. Há um misticismo amplificado pela trilha sonora (experimente ficar alheio a A Blessing de Max Richter), num sem fim elegíaco de silêncios barulhentos, de diálogos ambíguos, de solenidades afetuosas em cada frame. Volto a dizer que a gente sairá sem muitas respostas: mas compreenderá que estamos falando de uma série que apresenta o conceito de "perda" como nunca antes visto. E sobre como devemos lidar com ela. Talvez a melhor série da última década, The Leftovers foi resumida pelo crítico Roger Ebert como um espetáculo "capaz de transformar o espectador em marionete, suscitando dúvidas, inspirando teorias, convertendo céticos em crentes e vice-versa". Vocês vão amar. Não tenho dúvidas.
The Leftovers é, seguramente, uma das melhores séries que já assisti - se colocando ao lado de Breaking Bad, Bates Motel, This Is Us e outras preferidas. Só que teve um problema: assistir a ela na quarentena, em meio à pandemia, não me fez muito bem. Explico: ainda que sejam apenas três temporadas distribuídas em 28 episódios, há uma forte carga dramática e uma densidade narrativa poucas vezes vista, numa trama que discute fanatismo religioso, conceitos de família, percepção da morte como uma possibilidade REAL e como os traumas mexem conosco. Tudo começa com um evento meio "enigmático", que envolve o desaparecimento repentino de 2% da população mundial - cerca de 140 milhões de pessoas ao redor do mundo, no dia 14 de outubro de 2011. Arrebatamento bíblico que levou os verdadeiros cristãos para perto de Deus no fim dos tempos? Evento sobrenatural inexplicável? Invasão alienígena? Não há respostas. E não haverá respostas, bem sinceramente. Mas muitas pessoas ficaram. E tentarão restabelecer alguma "normalidade" dali para frente.
Entre os que ficaram está o policial Kevin Garvey (Justin Theroux) e a funcionária governamental Nora Durst (Carrie Coon). Os dois, de alguma forma, tiveram perdas por ocasião da "partida repentina". A situação mais dramática é a de Nora: naquele dia 14, em meio a um dia qualquer na cozinha, em que as crianças faziam baderna, enquanto o marido se mantinha alheio, viu todos sumirem de uma vez. Toda a família. Os dois filhos e o marido. Já Kevin não viu nenhum desaparecimento físico acontecer, mas perde a sua esposa Laurie (Amy Brenneman) para uma espécie de culto misterioso, que se autodenomina de Remanescentes Culpados - coletivo em que todos utilizam roupas brancas, não se manifestam com palavras e passam os dias tentanto cooptar novos membros, enquanto fumam carteiras e mais carteiras de cigarros. Pra piorar, um de seus filhos resolve seguir uma espécie de guru espiritual, enquanto sua filha também parece meio perdida a partir do ocorrido.
E é a partir da história de Kevin que a gente percebe que The Leftovers é muito mais sobre quem ficou, do que sobre quem foi. Sem fornecer muitas explicações para o fatídico evento, a narrativa centra suas forças na permanente tentativa de simplesmente subsistir, prosseguir, em meio a questionamentos de crenças, dúvidas sobre o futuro e incertezas meio generalizadas. Irmão de Nora, Matt (o ótimo Christopher Eccleston) é um reverendo que não acredita na teoria do "arrebatamento", afinal, muitos dos desaparecidos eram bandidos, pecadores, prostitutas, chantagistas ou, simpelsmente, maus cristãos. A primeira temporada de alguma forma apresenta estes conflitos em que Igreja se coloca em choque com a sociedade civil, enquanto novos grupos religiosos se esforçam para jogar alguma luz sobre os eventos. Mas, é preciso que se diga: a força da série não está na grandiosidade de acontecimentos supostamente bíblicos e sim no que ocorre na intimidade de cada um daqueles personagens, que trafegam em suas existências num misto de incerteza quanto ao futuro e de incapacidade de seguir adiante.
A segunda temporada apresenta um interessantíssimo arco narrativo, ao migrar a história para uma pequena cidade de pouco mais de 9 mil habitantes do Texas - onde mais? -, em que ninguém foi arrebatado. Chamado de Miracle, o local passa a ser frequentado por peregrinos, fanáticos religiosos que parecem aguardar algum tipo de intervenção divina - especialmente em épocas de aniversário do incidente. Há novos personagens, novos mistérios, novos sumiços, que serão, em partes, amarrados na terceira temporada - isso por que a série não apresenta respostas definitivas para nada. E talvez seja isso que a torne tão fascinante porque tudo parece tão passível de alguma explicação quanto duvidoso. Há um misticismo amplificado pela trilha sonora (experimente ficar alheio a A Blessing de Max Richter), num sem fim elegíaco de silêncios barulhentos, de diálogos ambíguos, de solenidades afetuosas em cada frame. Volto a dizer que a gente sairá sem muitas respostas: mas compreenderá que estamos falando de uma série que apresenta o conceito de "perda" como nunca antes visto. E sobre como devemos lidar com ela. Talvez a melhor série da última década, The Leftovers foi resumida pelo crítico Roger Ebert como um espetáculo "capaz de transformar o espectador em marionete, suscitando dúvidas, inspirando teorias, convertendo céticos em crentes e vice-versa". Vocês vão amar. Não tenho dúvidas.
quarta-feira, 17 de junho de 2020
Novidades no Now/VOD - A Vastidão da Noite (The Vast of Night)
De: Andrew Patterson. Com Sierra McCormick, Jake Horowitz e Gail Cronauer. Fantasia / Ficção Científica / Suspense, EUA, 2020, 91 minutos.
A Vastidão da Noite (The Vast of Night) é aquele típico filmezinho de baixo orçamento que te pega pela mão, te leva para uma série de lugares com potencial de exploração, te dá algumas respostas, mas te ganha mais pela jornada. É a legítima obra para a qual a expressão "eu não dava nada, mas me surpreendi", se presta. É despretensioso e bem realizado tecnicamente. Tem atuações satisfatórias, ótimos diálogos e "teorias" plausíveis. A ação toda se passa numa pequena cidade americana do meio do século passado onde, em certa noite, haverá um jogo de basquete local que inaugurará a temporada. O clima de "cidade pequena" em que todos se envolvem com tudo pode ser percebido já nos primeiros minutos, onde o radialista Everett (Jake Horowitz) é chamado para tentar auxiliar num problema técnico que envolve algum tipo de curto circuito na rede elétrica do ginásio local. O que poderia comprometer o jogo e a noite como um todo.
Não vai demorar para que a gente perceba que estes cinco minutos iniciais são apenas a desculpa para que sejamos aos poucos absorvidos pelas temáticas que a obra do diretor estreante Andrew Patterson propõe - e que vão desde a importância das comunicações (e do rádio) para as famílias americanas das décadas de 50 e 60, passando pelas inseguranças políticas do pós-guerra, até chegar no sonho puramente humano de estabelecer contato com outras dimensões, seres, povos, planetas. São temas que atraem - e não é por acaso que séries como Além da Imaginação e filmes como Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977) pareçam homenagens óbvias. Quando Everett retorna para o rádio, ele se depara com um tipo de zumbido estranho que parece sair das ondas sonoras, em meio a música, algo meio confuso, modulado. Amiga dele, a jovem telefonista Fay Crocker (Sierra McCormick) também nota esta interferência nas ligações que deve encaminhar. Não apenas isso, recebe uma confusa chamada de uma mulher, o que só faz o mistério aumentar.
Aliás a obra, apesar de pequena, é muito hábil na construção da tensão. Mesmo quando não parece haver NADA acontecendo, a gente sente que está acontecendo TUDO. Esse é o caso, por exemplo, de um longuíssimo plano em que Fay recebe uma série de ligações, faz outras, em que tenta encontrar alguma lógica para o ruído estranho que escuta saído dos equipamentos gigantes da sala de telefonia. Liga para o rádio para ver se o amigo Everett pode lhe ajudar. Juntos, buscam sentido em algo, não se sabe o quê. Fay receberá uma ligação que poderá ser reveladora de algo. Tentarão fazer algum tipo de busca, de conexão, enquanto a cidade está entorpecida, paralisada, magnetizada pelo jogo de basquete que acontece. A catarse esportiva como um contraponto para a libertação de outros sentimentos reprimidos, guardados, sem que saibamos exatamente o quê. Não demora para que comecemos a nos perguntar se há alguma conspiração governamental em andamento, se há vida em outros planetas, se existem mais dimensões do que aquela em que estamos. Muitas perguntas. Jornada divertida.
E isto para um filme tão pequeno, confesso, é algo quase mágico. A capacidade de mexer com os nossos sentimentos, essa nossa ansiedade de buscas por explicações, para sentidos na vida, para aquilo que está debaixo da superfície, que nos escapa. Utilizando a parte técnica em favor da narrativa - observe como a escuridão da noite dessa cidade (toda filmada com luz natural) é sufocante, angustiante -, a película ainda conta com um dos mais ambiciosos tracking shots da história do cinema recente, saindo do local de trabalho de Fay, passando pelo ginásio em que o jogo ocorre, até chegar a estação de rádio em que Everett se encontra. Nostálgico, com uma organicidade e um naturalismo impressionantes (os diálogos são formidáveis), o filme não se furta em concluir de forma satisfatória aquilo que parece apenas especular durante uma hora e meia. Parece um episódio de série antiga, meio retrô. Parece Além da Imaginação. E é extremamente gostoso de assistir. Ótimo que festivais alternativos o tenham descoberto. Talvez tenha sido o que tenha chamado a atenção da Amazon, que o incluiu em seu catálogo.
Nota: 8,0
A Vastidão da Noite (The Vast of Night) é aquele típico filmezinho de baixo orçamento que te pega pela mão, te leva para uma série de lugares com potencial de exploração, te dá algumas respostas, mas te ganha mais pela jornada. É a legítima obra para a qual a expressão "eu não dava nada, mas me surpreendi", se presta. É despretensioso e bem realizado tecnicamente. Tem atuações satisfatórias, ótimos diálogos e "teorias" plausíveis. A ação toda se passa numa pequena cidade americana do meio do século passado onde, em certa noite, haverá um jogo de basquete local que inaugurará a temporada. O clima de "cidade pequena" em que todos se envolvem com tudo pode ser percebido já nos primeiros minutos, onde o radialista Everett (Jake Horowitz) é chamado para tentar auxiliar num problema técnico que envolve algum tipo de curto circuito na rede elétrica do ginásio local. O que poderia comprometer o jogo e a noite como um todo.
Não vai demorar para que a gente perceba que estes cinco minutos iniciais são apenas a desculpa para que sejamos aos poucos absorvidos pelas temáticas que a obra do diretor estreante Andrew Patterson propõe - e que vão desde a importância das comunicações (e do rádio) para as famílias americanas das décadas de 50 e 60, passando pelas inseguranças políticas do pós-guerra, até chegar no sonho puramente humano de estabelecer contato com outras dimensões, seres, povos, planetas. São temas que atraem - e não é por acaso que séries como Além da Imaginação e filmes como Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977) pareçam homenagens óbvias. Quando Everett retorna para o rádio, ele se depara com um tipo de zumbido estranho que parece sair das ondas sonoras, em meio a música, algo meio confuso, modulado. Amiga dele, a jovem telefonista Fay Crocker (Sierra McCormick) também nota esta interferência nas ligações que deve encaminhar. Não apenas isso, recebe uma confusa chamada de uma mulher, o que só faz o mistério aumentar.
Aliás a obra, apesar de pequena, é muito hábil na construção da tensão. Mesmo quando não parece haver NADA acontecendo, a gente sente que está acontecendo TUDO. Esse é o caso, por exemplo, de um longuíssimo plano em que Fay recebe uma série de ligações, faz outras, em que tenta encontrar alguma lógica para o ruído estranho que escuta saído dos equipamentos gigantes da sala de telefonia. Liga para o rádio para ver se o amigo Everett pode lhe ajudar. Juntos, buscam sentido em algo, não se sabe o quê. Fay receberá uma ligação que poderá ser reveladora de algo. Tentarão fazer algum tipo de busca, de conexão, enquanto a cidade está entorpecida, paralisada, magnetizada pelo jogo de basquete que acontece. A catarse esportiva como um contraponto para a libertação de outros sentimentos reprimidos, guardados, sem que saibamos exatamente o quê. Não demora para que comecemos a nos perguntar se há alguma conspiração governamental em andamento, se há vida em outros planetas, se existem mais dimensões do que aquela em que estamos. Muitas perguntas. Jornada divertida.
E isto para um filme tão pequeno, confesso, é algo quase mágico. A capacidade de mexer com os nossos sentimentos, essa nossa ansiedade de buscas por explicações, para sentidos na vida, para aquilo que está debaixo da superfície, que nos escapa. Utilizando a parte técnica em favor da narrativa - observe como a escuridão da noite dessa cidade (toda filmada com luz natural) é sufocante, angustiante -, a película ainda conta com um dos mais ambiciosos tracking shots da história do cinema recente, saindo do local de trabalho de Fay, passando pelo ginásio em que o jogo ocorre, até chegar a estação de rádio em que Everett se encontra. Nostálgico, com uma organicidade e um naturalismo impressionantes (os diálogos são formidáveis), o filme não se furta em concluir de forma satisfatória aquilo que parece apenas especular durante uma hora e meia. Parece um episódio de série antiga, meio retrô. Parece Além da Imaginação. E é extremamente gostoso de assistir. Ótimo que festivais alternativos o tenham descoberto. Talvez tenha sido o que tenha chamado a atenção da Amazon, que o incluiu em seu catálogo.
Nota: 8,0
terça-feira, 16 de junho de 2020
Na Espera - Oscar Adiado!
Era uma notícia que todos os cinéfilos do mundo aguardavam já algumas semanas e, agora, é oficial: a cerimônia do Oscar do ano que vem foi adiada para o dia 25 de abril de 2021, por causa da pandemia de coronavírus. O evento teve a sua data alterada, de acordo com o Los Angeles Times, após reunião por webconferência realizada entre os 54 conselheiros que integram a Academia, na manhã de ontem (15/06). A decisão também modifica o período de submissão dos filmes para consideração, que deverão ter sido lançados até o dia 28 de fevereiro de 2021 - que, aliás, era a data inicial do Oscar.
Outras regras de elegibilidade também foram alteradas nas últimas semanas, como é o caso daquela que desobriga as produtoras a exibirem a obra por pelo menos uma semana, em uma sala de cinema de Los Angeles. Por conta do fechamento dos cinemas, os filmes que estreiam diretamente no streaming - caso, por exemplo, de Destacamento Blood, recente obra de Spike Lee, já se tornam elegíveis para indicação. Outra novidade é a fusão das categorias Mixagem e Edição de Som que, agora, passam a ser uma só, que premiará simplesmente o Melhor Som. Outras regras têm sido repensadas e modificadas - especialmente no que diz respeito às sessões espaciais que antecipam a premiação -, e outras mudanças não estão descartadas.
Outras regras de elegibilidade também foram alteradas nas últimas semanas, como é o caso daquela que desobriga as produtoras a exibirem a obra por pelo menos uma semana, em uma sala de cinema de Los Angeles. Por conta do fechamento dos cinemas, os filmes que estreiam diretamente no streaming - caso, por exemplo, de Destacamento Blood, recente obra de Spike Lee, já se tornam elegíveis para indicação. Outra novidade é a fusão das categorias Mixagem e Edição de Som que, agora, passam a ser uma só, que premiará simplesmente o Melhor Som. Outras regras têm sido repensadas e modificadas - especialmente no que diz respeito às sessões espaciais que antecipam a premiação -, e outras mudanças não estão descartadas.
Lasquinha do Bernardo - Caio Fernando Abreu e The Office: A Grande Falta em Michael Scott e Bolsonaro
Por: Bernardo Siqueira
Avenida Slough, 1725 – Scranton – Pensilvânia.
Filial da Dunder Mifflin Paper Company, Inc.
Observe este local. Um típico escritório. Ao abrir a porta você percebe uma simpática e eficaz recepcionista, atenta ao telefone, “Dunder Mifflin, this is Pam”, que não raro dirige seu olhar para a mesa que está a sua frente e sorri. Este gesto simples é logo interrompido por um momento de vergonha, como são as demonstrações honestas de um amor escondido que escorre pelo rosto, indevidamente. Pam Beesly, interpretada por Jenna Fischer, tem uma visão ampla, quase completa, deste grande ambiente. Tudo ocorre na perfeita e tediosa normalidade de um dia de trabalho. Não para Jim Halpert (John Krasinski) que está mais ocupado pregando peças ou, em bom português, enchendo o saco, sistematicamente, de Dwight Schrute (Rainn Wilson), um descendente de alemães com inspirações nazifascistas, fazendeiro, criador de beterrabas e cuja maior responsabilidade e prazer é puxar o saco e o tapete, se necessário for, do seu gerente, Michael Scott (Steve Carell).
Este cenário e ações descritas são o ponto de partida para quase todos os episódios de The Office, adaptação americana da série britânica de mesmo nome, lançada nos Estados Unidos pela NBC em 2005 e que, depois de nove intensas e hilárias temporadas, chegou ao fim em 2013.
Michael é o autodenominado “melhor chefe do mundo” como orgulhosamente exposto em sua caneca, um singelo presente a si mesmo. Solteirão megalomaníaco, verdadeiro tiozão do pavê, com um repertório imenso de piadas de mau gosto e comentários inapropriados que fariam a família Bolsonaro e seus seguidores ficarem ruborizados (minto, até para Michael há limites!) o líder do escritório é o pior pesadelo de qualquer funcionário, um verdadeiro exercício de vergonha alheia. Pode parecer contraditório ou paradoxal, mas é impossível não amar Michael Scott. The Office é uma trajetória de redenção e, sobretudo, de amor.
Apesar de todas as peripécias, o gerente regional faz todo o possível para agradar e ser amado. Michael é leal, inocente e dono de um angustiado coração. Aos poucos vamos conhecendo esse homem que é movido pela dedicação ao trabalho e percebemos que há uma ausência na sua vida, como escreve Caio Fernando Abreu no conto “Transformações”, “a Grande Falta crepitava em chamas dentro dele”. É verdade que isso não o torna menos ridículo ou incapaz de perceber os limites socias, mas enquanto todos estão absortos em suas atividades mecânicas, Michael está tramando algum tipo de diversão muito específica e improvável que, em sua mente cartunesca, alegrará o dia do escritório e tornará o trabalho robotizado em uma catarse coletiva. É a perceptível Grande Falta, um desejo intrínseco de agradar seus comandados, que difere o desajuste da maldade. Há certa complexidade nesta personagem que nos gera um imenso constrangimento e, ao mesmo tempo, um grande carinho. Michael é guiado pela insegurança, pela necessidade de validação e se desdobra, sempre com cômico exagero, para atingir a legitimidade.
Não é preciso ir muito longe, especialmente se você estiver em Brasília, para observar similaridades nas atitudes de Michael e Bolsonaro. Engana-se quem pensa que a comparação reside no fato do presidente ter a complexidade de uma folha em branco, o que aproximaria o Palácio do Planalto da Dunder Mifflin, fornecedora de papéis. Também não é pelo fato de Dwight, braço direito de Michael, ser autoritário e misógino. O que os une é a diferente perspectiva sobre a mesma Grande Falta. Se o gerente regional está preocupado com invencionices para transformar a rotina maçante do escritório, Bolsonaro parece fazer o oposto. Preocupado em inflamar a população contra os mais diversos inimigos da pátria, como o Supremo, o Establishment e o Comunismo, acaba se tornando aquilo que, de fato, é o papel de Michael: ser uma piada.
O que faz arder o coração de Bolsonaro não é o desejo profundo de agregar, de compartilhar alegrias e de união, como percebemos no protagonista de The Office. Mesmo com todos os defeitos aceitáveis para uma pessoa civilizada, Michael é o desajustado bom, e Bolsonaro insiste em interpretar o “cidadão de bem”, o desajustado malvado, armamentista e desqualificado. Ambos constrangem e embaraçam. Um deseja amigos, o outro, a morte e, este, infelizmente, está na realidade e não em séries de televisão. A psicologia explica com maior qualidade o que é visível nestas duas personagens: há diferentes formas de lidar com a sua Grande Ausência, Grande Indiferença ou Grande Partida, citadas por Caio F. Abreu.
A Grande Falta está em todos nós. Ela pode não ser perceptível, talvez hoje esteja guardada em lugares inacessíveis, em imensos desertos emocionais, mas sempre é acompanhada do brutal morcego de Augusto dos Anjos que, “por mais que a gente faça, à noite, entra imperceptivelmente em nosso quarto”. E ali, no escuro, ao observar o morcego da Consciência Humana, Michael sorri, talvez arrependido por um comentário ou outro, arquitetando o próximo dia de aventuras na sede regional da Dunder Mifflin. Bolsonaro, por sua vez, briga, se levanta e tenta espantar o animal, enquanto, pela janela, o país pega fogo.
Avenida Slough, 1725 – Scranton – Pensilvânia.
Filial da Dunder Mifflin Paper Company, Inc.
Observe este local. Um típico escritório. Ao abrir a porta você percebe uma simpática e eficaz recepcionista, atenta ao telefone, “Dunder Mifflin, this is Pam”, que não raro dirige seu olhar para a mesa que está a sua frente e sorri. Este gesto simples é logo interrompido por um momento de vergonha, como são as demonstrações honestas de um amor escondido que escorre pelo rosto, indevidamente. Pam Beesly, interpretada por Jenna Fischer, tem uma visão ampla, quase completa, deste grande ambiente. Tudo ocorre na perfeita e tediosa normalidade de um dia de trabalho. Não para Jim Halpert (John Krasinski) que está mais ocupado pregando peças ou, em bom português, enchendo o saco, sistematicamente, de Dwight Schrute (Rainn Wilson), um descendente de alemães com inspirações nazifascistas, fazendeiro, criador de beterrabas e cuja maior responsabilidade e prazer é puxar o saco e o tapete, se necessário for, do seu gerente, Michael Scott (Steve Carell).
Este cenário e ações descritas são o ponto de partida para quase todos os episódios de The Office, adaptação americana da série britânica de mesmo nome, lançada nos Estados Unidos pela NBC em 2005 e que, depois de nove intensas e hilárias temporadas, chegou ao fim em 2013.
Michael é o autodenominado “melhor chefe do mundo” como orgulhosamente exposto em sua caneca, um singelo presente a si mesmo. Solteirão megalomaníaco, verdadeiro tiozão do pavê, com um repertório imenso de piadas de mau gosto e comentários inapropriados que fariam a família Bolsonaro e seus seguidores ficarem ruborizados (minto, até para Michael há limites!) o líder do escritório é o pior pesadelo de qualquer funcionário, um verdadeiro exercício de vergonha alheia. Pode parecer contraditório ou paradoxal, mas é impossível não amar Michael Scott. The Office é uma trajetória de redenção e, sobretudo, de amor.
Apesar de todas as peripécias, o gerente regional faz todo o possível para agradar e ser amado. Michael é leal, inocente e dono de um angustiado coração. Aos poucos vamos conhecendo esse homem que é movido pela dedicação ao trabalho e percebemos que há uma ausência na sua vida, como escreve Caio Fernando Abreu no conto “Transformações”, “a Grande Falta crepitava em chamas dentro dele”. É verdade que isso não o torna menos ridículo ou incapaz de perceber os limites socias, mas enquanto todos estão absortos em suas atividades mecânicas, Michael está tramando algum tipo de diversão muito específica e improvável que, em sua mente cartunesca, alegrará o dia do escritório e tornará o trabalho robotizado em uma catarse coletiva. É a perceptível Grande Falta, um desejo intrínseco de agradar seus comandados, que difere o desajuste da maldade. Há certa complexidade nesta personagem que nos gera um imenso constrangimento e, ao mesmo tempo, um grande carinho. Michael é guiado pela insegurança, pela necessidade de validação e se desdobra, sempre com cômico exagero, para atingir a legitimidade.
Não é preciso ir muito longe, especialmente se você estiver em Brasília, para observar similaridades nas atitudes de Michael e Bolsonaro. Engana-se quem pensa que a comparação reside no fato do presidente ter a complexidade de uma folha em branco, o que aproximaria o Palácio do Planalto da Dunder Mifflin, fornecedora de papéis. Também não é pelo fato de Dwight, braço direito de Michael, ser autoritário e misógino. O que os une é a diferente perspectiva sobre a mesma Grande Falta. Se o gerente regional está preocupado com invencionices para transformar a rotina maçante do escritório, Bolsonaro parece fazer o oposto. Preocupado em inflamar a população contra os mais diversos inimigos da pátria, como o Supremo, o Establishment e o Comunismo, acaba se tornando aquilo que, de fato, é o papel de Michael: ser uma piada.
O que faz arder o coração de Bolsonaro não é o desejo profundo de agregar, de compartilhar alegrias e de união, como percebemos no protagonista de The Office. Mesmo com todos os defeitos aceitáveis para uma pessoa civilizada, Michael é o desajustado bom, e Bolsonaro insiste em interpretar o “cidadão de bem”, o desajustado malvado, armamentista e desqualificado. Ambos constrangem e embaraçam. Um deseja amigos, o outro, a morte e, este, infelizmente, está na realidade e não em séries de televisão. A psicologia explica com maior qualidade o que é visível nestas duas personagens: há diferentes formas de lidar com a sua Grande Ausência, Grande Indiferença ou Grande Partida, citadas por Caio F. Abreu.
A Grande Falta está em todos nós. Ela pode não ser perceptível, talvez hoje esteja guardada em lugares inacessíveis, em imensos desertos emocionais, mas sempre é acompanhada do brutal morcego de Augusto dos Anjos que, “por mais que a gente faça, à noite, entra imperceptivelmente em nosso quarto”. E ali, no escuro, ao observar o morcego da Consciência Humana, Michael sorri, talvez arrependido por um comentário ou outro, arquitetando o próximo dia de aventuras na sede regional da Dunder Mifflin. Bolsonaro, por sua vez, briga, se levanta e tenta espantar o animal, enquanto, pela janela, o país pega fogo.
segunda-feira, 15 de junho de 2020
Pérolas da Netflix - Destacamento Blood (Da 5 Bloods)
De: Spike Lee. Com Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Clarke Peters, Jonathan Majors e Norm Lewis. Drama / Guerra, EUA, 2020, 154 minutos.
Em meio a protestos nos Estados Unidos por causa da morte de George Floyd e da ampliação do debate sobre o Movimento #BlackLivesMatter não poderia haver timing melhor para o lançamento de Destacamento Blood (Da 5 Bloods) - novo filme do diretor Spike Lee. Assim como no clássico Faça a Coisa Certa (1989) e no recente Infiltrado na Klan (2018), as discussões sobre o racismo pontuam este novo trabalho. Melhor ainda, jogam luz sobre um fato pouco conhecido do grande público: o de que em guerras como a do Vietnã, boa parte dos soldados enviados para o front eram negros que formavam as primeiras fileiras de combatentes - praticamente atirados à morte. Essas histórias reais normalmente a gente não vê no cinema, especialmente em grandes clássicos como Apocalypse Now (1979) ou Platoon (1986). Assim o que Lee faz, em um primeiro momento, é prestar uma homenagem à memória destes soldados que também estiveram em guerras absurdas. Que perderam vidas, tiveram suas famílias devastadas, voltaram traumatizados.
Em uma guerra como a do Vietnã há uma segunda guerra em andamento: a racial. E não é por acaso que o filme intercala cenas do conflito com outras dos discursos pacíficos de Martin Luther King nos anos 60, ou de outros líderes e figuras representativas da luta pelos direitos civis. Trinta e dois por cento dos soldados que estavam em Saigon ou outras cidades vietnamitas eram negros, afinal. Um terço. Mesmo a população afro norte-americana não ultrapassando os 11%. E esse fato por si só já renderia um verdadeiro tratado sobre as questões raciais em meio às guerras. Mas Lee consegue ir ainda mais além: transforma seu filme em um recorte da nossa sociedade atual, com o microcosmo apresentado funcionando como uma metáfora real para a completa incapacidade de diálogo entre países com ideologias distintas. Assim, não é difícil perceber nas entrelinhas que os traumas do passado se refletirão em comportamentos xenófobos, intolerantes e de completo desrespeito às diferenças.
Afinal de contas, muitos anos se passaram desde o fim da guerra. Mas quatro veteranos - Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis), Melvin (Isiah Whitlock, Jr.), além do intempestivo Paul (Delroy Lindo, em caracterização que só não estará no Oscar se Academia estiver hibernando) - retornam ao País asiático nos dias de hoje para resgatar os restos mortais do líder do esquadrão Stormin' Norman (Chadwick Boseman). Além disso, a intenção é a de encontrar um tesouro - no caso, dezenas de barras de ouro avaliadas em milhões de dólares - que teria ficado para trás na época do conflito, o que só será possível com o apoio de figuras locais como o guia turístico Vinh (Johnny Tri Nguyen) e a ex-prostituta Quân (Lam Nguyen). A presença de ativistas franceses no local - empenhados em desarmar bombas -, somados ao trauma generalizado que os conflitos estabeleceram na memória de todas as nações envolvidas na guerra, será o estopim para que questões mal resolvidas venham à tona, sendo a ambição financeira uma parte da origem de todos os males (no fim das contas todos os envolvidos querem tirar uma casquinha do tesouro).
Mas há também as diferenças políticas e Lee é hábil ao apresentar seus personagens como figuras complexas, cheias de camadas. Paul, por exemplo, parece ser o mais traumatizado pela guerra - os motivos surgem no decorrer da narrativa -, não hesitando em vestir um boné da campanha de Donald Trump, com a frase "make America great again", num daqueles paradoxos políticos que, claro, não são exclusividade nossa. Conservador e preconceituoso, trata os estrangeiros com desconfiança e beligerância, acreditando ainda em teorias conspiratórias, em paranoia comunista e em... Deus, claro. É ele o responsável por praticamente "reativar" a guerra, arrumando briga inclusive com seu filho, o professor pacifista David (Jonathan Majors). E, confesso que, por mais difícil que seja essa personagem, ela tem um sentido de existir no combo que envolve crítica ao absurdo da guerra, misturada com a crença cega em políticos que se apresentam como líderes quase messiânicos dispostos a livrar a nação de todo o mal (como é o caso de Trump).
Alternando momentos mais contemplativos de fluidez narrativa - a obra não tem pressa nenhuma em apresentar seus personagens, se demorando também em mostrar um Vietnã mais "ocidentalizado" -, com outros de pura tensão quase involuntária, a obra também presta homenagem à filmes de guerra do passado, seja em seus ângulos de câmera evocativos ou em sua trilha sonora, com direito até mesmo a aparição da Cavalgada das Valquírias, de Wagner. Além disso, sugere que conflitos do tipo dificilmente possuem um lado certo do combate, o que fica ainda mais evidenciado em uma cena decisiva na reta final da película, em que dois personagens se "reencontram". Trata-se, afinal de contas, de uma obra pouco óbvia, que utiliza um tom não tão ostensivo (e até eventualmente onírico), para destacar seu ponto de vista. A guerra é estúpida, afinal. E além de tudo é racista. E traumas desse tipo não podem ser superados na marra, com blocos de ouro - como se o dinheiro apagasse todas as dores.
Em meio a protestos nos Estados Unidos por causa da morte de George Floyd e da ampliação do debate sobre o Movimento #BlackLivesMatter não poderia haver timing melhor para o lançamento de Destacamento Blood (Da 5 Bloods) - novo filme do diretor Spike Lee. Assim como no clássico Faça a Coisa Certa (1989) e no recente Infiltrado na Klan (2018), as discussões sobre o racismo pontuam este novo trabalho. Melhor ainda, jogam luz sobre um fato pouco conhecido do grande público: o de que em guerras como a do Vietnã, boa parte dos soldados enviados para o front eram negros que formavam as primeiras fileiras de combatentes - praticamente atirados à morte. Essas histórias reais normalmente a gente não vê no cinema, especialmente em grandes clássicos como Apocalypse Now (1979) ou Platoon (1986). Assim o que Lee faz, em um primeiro momento, é prestar uma homenagem à memória destes soldados que também estiveram em guerras absurdas. Que perderam vidas, tiveram suas famílias devastadas, voltaram traumatizados.
Em uma guerra como a do Vietnã há uma segunda guerra em andamento: a racial. E não é por acaso que o filme intercala cenas do conflito com outras dos discursos pacíficos de Martin Luther King nos anos 60, ou de outros líderes e figuras representativas da luta pelos direitos civis. Trinta e dois por cento dos soldados que estavam em Saigon ou outras cidades vietnamitas eram negros, afinal. Um terço. Mesmo a população afro norte-americana não ultrapassando os 11%. E esse fato por si só já renderia um verdadeiro tratado sobre as questões raciais em meio às guerras. Mas Lee consegue ir ainda mais além: transforma seu filme em um recorte da nossa sociedade atual, com o microcosmo apresentado funcionando como uma metáfora real para a completa incapacidade de diálogo entre países com ideologias distintas. Assim, não é difícil perceber nas entrelinhas que os traumas do passado se refletirão em comportamentos xenófobos, intolerantes e de completo desrespeito às diferenças.
Afinal de contas, muitos anos se passaram desde o fim da guerra. Mas quatro veteranos - Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis), Melvin (Isiah Whitlock, Jr.), além do intempestivo Paul (Delroy Lindo, em caracterização que só não estará no Oscar se Academia estiver hibernando) - retornam ao País asiático nos dias de hoje para resgatar os restos mortais do líder do esquadrão Stormin' Norman (Chadwick Boseman). Além disso, a intenção é a de encontrar um tesouro - no caso, dezenas de barras de ouro avaliadas em milhões de dólares - que teria ficado para trás na época do conflito, o que só será possível com o apoio de figuras locais como o guia turístico Vinh (Johnny Tri Nguyen) e a ex-prostituta Quân (Lam Nguyen). A presença de ativistas franceses no local - empenhados em desarmar bombas -, somados ao trauma generalizado que os conflitos estabeleceram na memória de todas as nações envolvidas na guerra, será o estopim para que questões mal resolvidas venham à tona, sendo a ambição financeira uma parte da origem de todos os males (no fim das contas todos os envolvidos querem tirar uma casquinha do tesouro).
Mas há também as diferenças políticas e Lee é hábil ao apresentar seus personagens como figuras complexas, cheias de camadas. Paul, por exemplo, parece ser o mais traumatizado pela guerra - os motivos surgem no decorrer da narrativa -, não hesitando em vestir um boné da campanha de Donald Trump, com a frase "make America great again", num daqueles paradoxos políticos que, claro, não são exclusividade nossa. Conservador e preconceituoso, trata os estrangeiros com desconfiança e beligerância, acreditando ainda em teorias conspiratórias, em paranoia comunista e em... Deus, claro. É ele o responsável por praticamente "reativar" a guerra, arrumando briga inclusive com seu filho, o professor pacifista David (Jonathan Majors). E, confesso que, por mais difícil que seja essa personagem, ela tem um sentido de existir no combo que envolve crítica ao absurdo da guerra, misturada com a crença cega em políticos que se apresentam como líderes quase messiânicos dispostos a livrar a nação de todo o mal (como é o caso de Trump).
Alternando momentos mais contemplativos de fluidez narrativa - a obra não tem pressa nenhuma em apresentar seus personagens, se demorando também em mostrar um Vietnã mais "ocidentalizado" -, com outros de pura tensão quase involuntária, a obra também presta homenagem à filmes de guerra do passado, seja em seus ângulos de câmera evocativos ou em sua trilha sonora, com direito até mesmo a aparição da Cavalgada das Valquírias, de Wagner. Além disso, sugere que conflitos do tipo dificilmente possuem um lado certo do combate, o que fica ainda mais evidenciado em uma cena decisiva na reta final da película, em que dois personagens se "reencontram". Trata-se, afinal de contas, de uma obra pouco óbvia, que utiliza um tom não tão ostensivo (e até eventualmente onírico), para destacar seu ponto de vista. A guerra é estúpida, afinal. E além de tudo é racista. E traumas desse tipo não podem ser superados na marra, com blocos de ouro - como se o dinheiro apagasse todas as dores.
sexta-feira, 12 de junho de 2020
Tesouros Cinéfilos - Meia Noite em Paris (Midnight In Paris)
De: Woody Allen. Com Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cottilard, Michael Sheen, Tom Hiddleston, Corey Stoll, Kathy Bates e Adrien Brody. Comédia / Fantasia, EUA / França / Espanha, 2011, 93 minutos.
Existe uma obra do espanhol Salvador Dalí que se chama A Persistência da Memória. Você conhece ela: é o famoso quadro dos "relógios moles". O artista teria pintado ele em apenas cinco horas, em 1931: enquanto a sua esposa foi a cinema, se dedicou a sua arte. E pra mim é meio paradoxal pensar que uma tela executada em tão pouco tempo seja uma das mais importantes daquele período. E que diga tanto a respeito da permanência da arte. De como ela fica enquanto memória VIVA do passado. Dalí era um surrealista, então naturalmente suas obras vinham carregadas de forte simbolismo. De representações complexas e de significados diversos. No caso de A Persistência..., pode-se dizer que o quadro é metalinguístico: o tempo escorre. Mas fica. Como memória. Como no caso da obra de um artista. E talvez Meia Noite em Paris (Midnight In Paris) seja também sobre isso. Sobre nostalgia, sobre lembranças. Sobre artistas que se vão e sobre produções culturais que ficam. Eternizadas. Em nossas retinas.
Salvador Dalí (Adrien Brody) é uma das tantas figuras vistas em "carne e osso" na obra de Allen. Representam o passado sonhado e idealizado por Gil (Owen Wilson), um escritor de roteiros de cinema que acredita que o tempo bom - da efervescência cultural, de experiências transformadoras nas artes -, está simbolizado na Paris dos anos 20. Época em que figuras como Pablo Picasso (Marcial Di Fonzo Bo), Ernest Hemingway (Corey Stoll) e o casal F. Scott (Tom Hiddleston) e Zelda Fitzgerald (Allison Pill), trocavam "figurinhas" na casa de uma agitadora Gertrude Stein (Kathy Bates). Idealizar o passado, acreditando que aquele tempo era melhor que o presente: é isso que Gil faz. E, assim, acaba arrumando briga com a sua noiva Inez (Rachel McAdams), que vê no revisionismo do sujeito uma espécie de inadequação. Aliás, é após um desentendimento, que Gil resolve caminhar solitário pelas ruas da capital francesa, sendo transportado diretamente para esse universo em que materializará o encontro com os ídolos.
Na real, a meu ver, o filme é uma grande homenagem às artes. E sobre como as obras dos artistas que amamos permanecem conosco até hoje, mesmo após a morte de todos eles. Idealizar os anos 20 tem a ver com sonhar com as festas luxuosas dadas pelo Gatsby de Fitzgerald ou com os quadros oníricos de Dalí - caso do A Persistência da Memória. A gente tende a achar, afinal, que não se faz mais música como antigamente, que os filmes de hoje não são como os de outra época, cheios de grandes astros e estrelas. Mas será mesmo? Será que somos seres eternamente insatisfeitos TAMBÉM no que diz respeito ao consumo de produtos culturais? SE fosse para este jornalista que vos escreve dar uma simples opinião eu diria que discordo de Gil: as manifestações culturais, afinal de contas, nunca foram tão plurais e democráticas. Destinadas aos mais variados nichos. E não objeto de apreciação de um seleto grupo.
Estabelecendo diálogo com as próprias artes que analisa, Allen filma Paris com uma beleza poucas vezes vista - suas praças, museus, espaços públicos, comércios. Há algo de artístico também, de nostálgico talvez, na busca por um disco perdido do Cole Porter em um sebo em que uma moça atenciosa lhe aborda. Ou mesmo no charme de um café a beira da calçada em um bistrô. Ou de caminhar na chuva mesmo, em meio a noite profunda e efervescente de Paris, seus cartões postais e locais de encontro. Allen transforma Paris na arte em si: grava-a em nossa retina. Nos faz sonhar, reimaginar, evocar. E faz tudo isso com uma ótima história, recheada de referências culturais divertidas - a parte em que Gil sugere o roteiro de um filme para Buñuel é ótima! -, com ótima trilha sonora e desenho de produção cheio de beleza. Olhar para o passado, no fim das contas, é algo que nos faz bem. Mas a vida é agora: pra frente. E ela pode acontecer. Em meio a chuva de Paris - ou não. Basta se permitir.
Existe uma obra do espanhol Salvador Dalí que se chama A Persistência da Memória. Você conhece ela: é o famoso quadro dos "relógios moles". O artista teria pintado ele em apenas cinco horas, em 1931: enquanto a sua esposa foi a cinema, se dedicou a sua arte. E pra mim é meio paradoxal pensar que uma tela executada em tão pouco tempo seja uma das mais importantes daquele período. E que diga tanto a respeito da permanência da arte. De como ela fica enquanto memória VIVA do passado. Dalí era um surrealista, então naturalmente suas obras vinham carregadas de forte simbolismo. De representações complexas e de significados diversos. No caso de A Persistência..., pode-se dizer que o quadro é metalinguístico: o tempo escorre. Mas fica. Como memória. Como no caso da obra de um artista. E talvez Meia Noite em Paris (Midnight In Paris) seja também sobre isso. Sobre nostalgia, sobre lembranças. Sobre artistas que se vão e sobre produções culturais que ficam. Eternizadas. Em nossas retinas.
Salvador Dalí (Adrien Brody) é uma das tantas figuras vistas em "carne e osso" na obra de Allen. Representam o passado sonhado e idealizado por Gil (Owen Wilson), um escritor de roteiros de cinema que acredita que o tempo bom - da efervescência cultural, de experiências transformadoras nas artes -, está simbolizado na Paris dos anos 20. Época em que figuras como Pablo Picasso (Marcial Di Fonzo Bo), Ernest Hemingway (Corey Stoll) e o casal F. Scott (Tom Hiddleston) e Zelda Fitzgerald (Allison Pill), trocavam "figurinhas" na casa de uma agitadora Gertrude Stein (Kathy Bates). Idealizar o passado, acreditando que aquele tempo era melhor que o presente: é isso que Gil faz. E, assim, acaba arrumando briga com a sua noiva Inez (Rachel McAdams), que vê no revisionismo do sujeito uma espécie de inadequação. Aliás, é após um desentendimento, que Gil resolve caminhar solitário pelas ruas da capital francesa, sendo transportado diretamente para esse universo em que materializará o encontro com os ídolos.
Na real, a meu ver, o filme é uma grande homenagem às artes. E sobre como as obras dos artistas que amamos permanecem conosco até hoje, mesmo após a morte de todos eles. Idealizar os anos 20 tem a ver com sonhar com as festas luxuosas dadas pelo Gatsby de Fitzgerald ou com os quadros oníricos de Dalí - caso do A Persistência da Memória. A gente tende a achar, afinal, que não se faz mais música como antigamente, que os filmes de hoje não são como os de outra época, cheios de grandes astros e estrelas. Mas será mesmo? Será que somos seres eternamente insatisfeitos TAMBÉM no que diz respeito ao consumo de produtos culturais? SE fosse para este jornalista que vos escreve dar uma simples opinião eu diria que discordo de Gil: as manifestações culturais, afinal de contas, nunca foram tão plurais e democráticas. Destinadas aos mais variados nichos. E não objeto de apreciação de um seleto grupo.
Estabelecendo diálogo com as próprias artes que analisa, Allen filma Paris com uma beleza poucas vezes vista - suas praças, museus, espaços públicos, comércios. Há algo de artístico também, de nostálgico talvez, na busca por um disco perdido do Cole Porter em um sebo em que uma moça atenciosa lhe aborda. Ou mesmo no charme de um café a beira da calçada em um bistrô. Ou de caminhar na chuva mesmo, em meio a noite profunda e efervescente de Paris, seus cartões postais e locais de encontro. Allen transforma Paris na arte em si: grava-a em nossa retina. Nos faz sonhar, reimaginar, evocar. E faz tudo isso com uma ótima história, recheada de referências culturais divertidas - a parte em que Gil sugere o roteiro de um filme para Buñuel é ótima! -, com ótima trilha sonora e desenho de produção cheio de beleza. Olhar para o passado, no fim das contas, é algo que nos faz bem. Mas a vida é agora: pra frente. E ela pode acontecer. Em meio a chuva de Paris - ou não. Basta se permitir.
Podcast do Picanha Cultural #7 - Comédias Românticas para o Dia dos Namorados
Comédia romântica pode ser muito legal e a gente quer aproveitar o Dia dos Namorados para reconhecer isso! Sim, são filmes que possuem muitas vezes uma estrutura com começo, meio e fim bem definidos. Mas que se tornam valiosos em meio a jornadas de personagens essencialmente humanos, cheios de imperfeições, de incertezas e de sonhos, mas que estão em busca da felicidade - felicidade esta que pode ser simbolizada, claro, por um amor pra chamar de seu. Os tempos andam bastante pesados, então a intenção com este episódio é de ser também um pouco mais "leve" (como sugeriu recentemente aquela ex-ministra) - de preferência sendo leve do jeito certo. Então convidamos vocês para essa jornada cinéfila em que o Bernardo Siqueira, o Henrique Oliveira e eu falamos daquelas obras cheias de paixão clichê, mas que jamais cansamos de assistir. Espero que vocês possam aproveitar alguma dica para assistir a dois. Ou sozinhx também, curtindo a própria companhia, com um bom vinho a tiracolo!
quarta-feira, 10 de junho de 2020
Tesouros Cinéfilos - Letra e Música (Music and Lyrics)
De: Marc Lawrence. Com Hugh Grant, Drew Barrymore, Haley Bennet, Kristen Johnson e Brad Garrett. Comédia romântica, EUA, 2007, 106 minutos.
Letra e Música (Music and Lyrics) não é apenas uma das mais engraçadas comédias românticas deste milênio: é também uma grande homenagem aos anos 80, seu estilo, figurinos, bandas e canções. E talvez uma coisa esteja relacionada a outra: é um filme divertido porque também é nostálgico, mexe com a nossa memória. E é por isso que, para este jornalista que vos escreve, a obra do diretor Marc Lawrence começa de forma não menos do que genial (sim, genial): em poucos segundos somos transportados para algum lugar do passado, lá pelo ano de 1986, onde assistimos a um clipe de uma banda fictícia chamada PoP, de uma canção que leva o nome de Pop Goes My Heart! Bom, quem já parou para navegar no Youtube em busca de clipes de coletivos como Outfield, Oingo Boingo, Mr. Mister e Spandau Ballet já viu essa cena antes: um grupo de caras mal vestidos pra caceta, de cabelo esquisito, mas com pose de maior símbolo sexual da última semana, cantando alguma canção aleatória, de letra melosa, cheia de sintetizadores e MUITO grudenta.
É dessa forma que o jogo já começa meio ganho. Até mesmo porque, vamos combinar, todo mundo sabe como acontece uma comédia romântica: mocinho conhece mocinha, eles parecem meio desajeitados em suas diferenças, buscando algum lugar no mundo e, talvez, a felicidade no amor. Após algum tempo se aproximam, se apaixonam, brigam por algum motivo estapafúrdio mas, no final, em algum instante redentor, reconhecem que devem ficar juntos e que não podem viver sem o outro. E se os personagens forem carismáticos, se nos importarmos com eles e, o principal, TORCERMOS por eles e acreditarmos neles, a chance de dar certo é muito grande. Portanto não caia no discurso óbvio de que comédia romântica é tudo igual e, portanto, sem graça, repetitiva. A meu ver é muito pelo contrário: é justamente pela previsibilidade, que devemos valorizar aquelas obras que nos comovem. Não podemos, afinal, ignorar nossos sentimentos. Como disse o crítico de cinema Pablo Villaça, em um curso: como posso falar mal de uma comédia que me fez rir? Esse é o cerne de uma comédia. Quase seu sentido de existir: fazer as pessoas gargalharem.
Então, dada toda essa reflexão, o que eu costumo fazer é não "brigar" com esse filme, porque ele é simplesmente adorável. Na trama Hugh Grant é Alex Fletcher, que integrava nos anos anos 80 a tal banda PoP, citada lá no primeiro parágrafo. Em meados dos anos 2000 ele é apenas uma figura de meia idade, esquecida pela imprensa musical, vivendo de apresentações em feiras agrícolas ou eventos de empresas, sendo convidado aqui e ali por emissoras de TV, para participar de programas de variedades apelativos. Já a Drew Barrymore é Sophie Fisher, garota postulante a escritora de poesias que surge meio que por acaso na casa de Fletcher para cuidar de suas plantas, substituindo outra pessoa. A oportunidade para uma maior aproximação de ambos se dá quando a excêntrica cantora pop juvenil Cora Corman (Haley Bennett) convida Fletcher para um dueto (ela era fã do PoP na infância). O porém: o antigo astro precisa compor uma nova canção em pouco mais de três dias. O que poderá ser viabilizado com a ajuda de... Sophie, claro!
Vencendo as inseguranças iniciais, a dupla conseguirá fazer uma composição nova e entregar para a mais nova estrela, nos fazendo rir e se emocionar no decorrer do percurso. Rir porque são MUITAS as piadas divertidas, que podem ser desde a capa de CD clichê da carreira solo de Fletcher - vendido a preço de banana em um balaião - até o fato de o filme ter meio que antecipado, de forma quase premonitória, a existência do "jovem místico" que hoje em dia é tão visto nas redes sociais (e juro que só faltou Cora oferecer a sua nova dupla de compositores uma sessão de reiki à distância para lhes auxiliar no intento). Já a emoção se dá na natureza da própria percepção do poder da arte em si. Nesse sentido, vale observar a reação de Sophie ao ouvir pela primeira vez a música composta por ela sendo tocada por Fletcher ao piano. São instantes não apenas de ternura, mas que denunciam um cuidado na composição das personagens - suas reações, expressões, gestos - MESMO em uma comédia romântica. Não, não vai mudar o mundo. Mas cumpre seu papel. Tem boa história, ótimas piadas, instantes de leveza, excelentes personagens secundários (a Kristin Johnson é SEMPRE ótima) e um roteiro que amarra nostalgia, música e romance na medida certa. Para quem procura uma comédia romântica bacana para o Dia dos Namorados. É só dar play. Está lá na Netflix.
Letra e Música (Music and Lyrics) não é apenas uma das mais engraçadas comédias românticas deste milênio: é também uma grande homenagem aos anos 80, seu estilo, figurinos, bandas e canções. E talvez uma coisa esteja relacionada a outra: é um filme divertido porque também é nostálgico, mexe com a nossa memória. E é por isso que, para este jornalista que vos escreve, a obra do diretor Marc Lawrence começa de forma não menos do que genial (sim, genial): em poucos segundos somos transportados para algum lugar do passado, lá pelo ano de 1986, onde assistimos a um clipe de uma banda fictícia chamada PoP, de uma canção que leva o nome de Pop Goes My Heart! Bom, quem já parou para navegar no Youtube em busca de clipes de coletivos como Outfield, Oingo Boingo, Mr. Mister e Spandau Ballet já viu essa cena antes: um grupo de caras mal vestidos pra caceta, de cabelo esquisito, mas com pose de maior símbolo sexual da última semana, cantando alguma canção aleatória, de letra melosa, cheia de sintetizadores e MUITO grudenta.
É dessa forma que o jogo já começa meio ganho. Até mesmo porque, vamos combinar, todo mundo sabe como acontece uma comédia romântica: mocinho conhece mocinha, eles parecem meio desajeitados em suas diferenças, buscando algum lugar no mundo e, talvez, a felicidade no amor. Após algum tempo se aproximam, se apaixonam, brigam por algum motivo estapafúrdio mas, no final, em algum instante redentor, reconhecem que devem ficar juntos e que não podem viver sem o outro. E se os personagens forem carismáticos, se nos importarmos com eles e, o principal, TORCERMOS por eles e acreditarmos neles, a chance de dar certo é muito grande. Portanto não caia no discurso óbvio de que comédia romântica é tudo igual e, portanto, sem graça, repetitiva. A meu ver é muito pelo contrário: é justamente pela previsibilidade, que devemos valorizar aquelas obras que nos comovem. Não podemos, afinal, ignorar nossos sentimentos. Como disse o crítico de cinema Pablo Villaça, em um curso: como posso falar mal de uma comédia que me fez rir? Esse é o cerne de uma comédia. Quase seu sentido de existir: fazer as pessoas gargalharem.
Então, dada toda essa reflexão, o que eu costumo fazer é não "brigar" com esse filme, porque ele é simplesmente adorável. Na trama Hugh Grant é Alex Fletcher, que integrava nos anos anos 80 a tal banda PoP, citada lá no primeiro parágrafo. Em meados dos anos 2000 ele é apenas uma figura de meia idade, esquecida pela imprensa musical, vivendo de apresentações em feiras agrícolas ou eventos de empresas, sendo convidado aqui e ali por emissoras de TV, para participar de programas de variedades apelativos. Já a Drew Barrymore é Sophie Fisher, garota postulante a escritora de poesias que surge meio que por acaso na casa de Fletcher para cuidar de suas plantas, substituindo outra pessoa. A oportunidade para uma maior aproximação de ambos se dá quando a excêntrica cantora pop juvenil Cora Corman (Haley Bennett) convida Fletcher para um dueto (ela era fã do PoP na infância). O porém: o antigo astro precisa compor uma nova canção em pouco mais de três dias. O que poderá ser viabilizado com a ajuda de... Sophie, claro!
Vencendo as inseguranças iniciais, a dupla conseguirá fazer uma composição nova e entregar para a mais nova estrela, nos fazendo rir e se emocionar no decorrer do percurso. Rir porque são MUITAS as piadas divertidas, que podem ser desde a capa de CD clichê da carreira solo de Fletcher - vendido a preço de banana em um balaião - até o fato de o filme ter meio que antecipado, de forma quase premonitória, a existência do "jovem místico" que hoje em dia é tão visto nas redes sociais (e juro que só faltou Cora oferecer a sua nova dupla de compositores uma sessão de reiki à distância para lhes auxiliar no intento). Já a emoção se dá na natureza da própria percepção do poder da arte em si. Nesse sentido, vale observar a reação de Sophie ao ouvir pela primeira vez a música composta por ela sendo tocada por Fletcher ao piano. São instantes não apenas de ternura, mas que denunciam um cuidado na composição das personagens - suas reações, expressões, gestos - MESMO em uma comédia romântica. Não, não vai mudar o mundo. Mas cumpre seu papel. Tem boa história, ótimas piadas, instantes de leveza, excelentes personagens secundários (a Kristin Johnson é SEMPRE ótima) e um roteiro que amarra nostalgia, música e romance na medida certa. Para quem procura uma comédia romântica bacana para o Dia dos Namorados. É só dar play. Está lá na Netflix.
terça-feira, 9 de junho de 2020
Curta Um Curta - #Apaixonadinho
O curta #Apaixonadinho foi exibido há três anos no Festival da Univates e eu, que naquela ocasião tive a honra de integrar o juri técnico da competição, jamais esqueci dele. É um filme que é pura simpatia: é inteligente na abordagem dos relacionamentos, possui um irresistível charme em seu "amadorismo" (juro que é um elogio) e, na semana do Dia dos Namorados, vem bem a calhar. A narrativa é bastante simples: nela um menino de nome Caio descobre o que é estar apaixonado pela primeira vez. Manda uma mensagem de texto para a colega Sofia revelando o seu interesse, mas não obtém uma resposta imediata. Pior: os colegas descobrem as suas "intenções" ele acaba arrumando briga na escola, é advertido pela diretora e é colocado de castigo pelos pais. Afinal, quem entende que um me nino de 11 anos pode se apaixonar? O único que parece lhe entender é o melhor amigo Matheus, que lhe dará uma forcinha. Parece tudo bastante convencional, quase previsível, mas essa pequena joia dos diretores Alexandre Estevanato e Lixa Palosa, reserva uma linda surpresa para o final, que faz com que o filme seja encerrado com chave de ouro. Vale conferir!
Tesouros Cinéfilos - Coração Valente (Braveheart)
De: Mel Gibson. Com Mel Gibson, Brendan Gleeson, Catherine McCormack e Patrick McGoohan. Drama / Aventura / História, EUA, 1995, 177 minutos.
Tem um pouco de tudo no clássico moderno Coração Valente (Braveheart), que completa 25 anos de seu lançamento agora em julho de 2020: ação, aventura, romance, drama, suspense, humor... é o cinemão por excelência na tradição das grandes obras concebidas por Hollywood e que numa rara equação, ao menos para os dias de hoje, alcançaria sucesso não apenas de público, mas também de crítica. Não é por acaso que a obra sairia como a grande vencedora do Oscar de 1996, com Mel Gibson consagrado não apenas como Diretor, mas também como Produtor. O filme, que volta no tempo pra contar a história do nobre caveleiro William Wallace que liderou uma rebelião no final do Século 13 que culminaria em uma grande guerra pela independência da Escócia, levou ainda para a casa as estatuetas de Fotografia, Efeitos Sonoros e Maquiagem (todo o mundo lembra da icônica pintura em branco e azul no rosto de Gibson).
Na internet há muitas críticas sobre as "liberdades criativas" tomadas por Gibson para a realização da película mas, bom, não teríamos uma obra de ficção que toma por base os fatos reais se tudo fosse seguido ao pé da letra. Um dos principais questionamentos envolve a personagens de Murron (Catherine McCormack) que, de acordo com historiadores, sequer teria existido. Mas para o filme ela é peça importante, por ser esposa de Wallace (Gibson), em um casamento ocorrido às escondidas, já que os pais da moça eram contrários à união. Após Murron ser brutalmente assassinada por integrantes do exército inglês liderados pelo tirano Rei Eduardo I (Patrick McGoohan), em uma emboscada em um vilarejo, é que tem início a jornada do herói. Wallace literalmente se alia ao povo indignado pela opressão da monarquia da época para reivindicar a liberdade suprimida, em meio aos temores reais de caos social que poderiam ser provocados por uma guerra civil.
É um contexto não muito fácil de ser compreendido, mas, sinceramente, isso é o de menos para a apreciação da obra. Há um mal representado por um Império militar que age de forma arbitrária, abusando do poder que tem sobre os clãs escoceses - o que pode ser visto em "políticas" absurdas como a da Prima Nocte, em que senhores de terra se davam ao direito de desvirginar jovens recém casadas, como forma de referendar um casamento entre servos. E há por outro lado um povo cansado de um sem fim de sofrimento - que no caso de Wallace existe desde a sua infância, já que seu pai morre em batalhas com a barbárie se espalhando pelos pequenos povoados (como no caso da cena em que dezenas de pessoas surgem enforcadas). Wallace fica emputecido com tanta injustiça, sendo a morte de Murron a gosta da água. De forma meio desorganizada, mas muito unida e apaixonada, o grupo de camponeses organizado pelo sujeito vai avançando, vencendo algumas campanhas, perdendo em outras, como no caso da Batalha de Falkirk. Destituir, afinal, um Governo tirano e autoritário não é tarefa fácil e isso, definitivamente, não será possível sem o derramamento de um caminhão de sangue.
Nesse sentido, a obra e Gibson é pródiga: as coreografias de batalhas são impressionantes, assim como a edição de som, com os barulhos de cavalos galopando, de espadas brandindo e de gritos ecoando, se misturando em meio a vastas planícies bem fotografadas. Aliás, o desenho de produção é também impressionante não apenas na recriação dos cenários da época (é divertido ver cidades como Edimburgo reimaginadas para o período), o mesmo valendo para o figurino, com o espectador reconhecendo facilmente as diferenças entre os imponentes trajes militares e as roupas quase esfarrapadas dos camponeses (numa metáfora para a situação real da Escócia na época, que chegava ao seu limite). Para quem gosta de filmes de ação e aventura, em que a "jornada do herói" fica claramente estabelecida - meio maniqueísta, mas é parte da diversão -, a obra é uma joia que vale a pena ser redescoberta. O drama relativo ao conceito de "vitória" também é subvertido dentro da narrativa, em meio a traições, gestos de amizade e camaradagem - e confesso que gosto muito de ver o Brendan Gleeson atuando. É filme de capa, de espada, de sangue, de suor, de lágrimas. E que nos deixa presos à cadeira nas três horas de duração. Que passam voando, por sinal.
Tem um pouco de tudo no clássico moderno Coração Valente (Braveheart), que completa 25 anos de seu lançamento agora em julho de 2020: ação, aventura, romance, drama, suspense, humor... é o cinemão por excelência na tradição das grandes obras concebidas por Hollywood e que numa rara equação, ao menos para os dias de hoje, alcançaria sucesso não apenas de público, mas também de crítica. Não é por acaso que a obra sairia como a grande vencedora do Oscar de 1996, com Mel Gibson consagrado não apenas como Diretor, mas também como Produtor. O filme, que volta no tempo pra contar a história do nobre caveleiro William Wallace que liderou uma rebelião no final do Século 13 que culminaria em uma grande guerra pela independência da Escócia, levou ainda para a casa as estatuetas de Fotografia, Efeitos Sonoros e Maquiagem (todo o mundo lembra da icônica pintura em branco e azul no rosto de Gibson).
Na internet há muitas críticas sobre as "liberdades criativas" tomadas por Gibson para a realização da película mas, bom, não teríamos uma obra de ficção que toma por base os fatos reais se tudo fosse seguido ao pé da letra. Um dos principais questionamentos envolve a personagens de Murron (Catherine McCormack) que, de acordo com historiadores, sequer teria existido. Mas para o filme ela é peça importante, por ser esposa de Wallace (Gibson), em um casamento ocorrido às escondidas, já que os pais da moça eram contrários à união. Após Murron ser brutalmente assassinada por integrantes do exército inglês liderados pelo tirano Rei Eduardo I (Patrick McGoohan), em uma emboscada em um vilarejo, é que tem início a jornada do herói. Wallace literalmente se alia ao povo indignado pela opressão da monarquia da época para reivindicar a liberdade suprimida, em meio aos temores reais de caos social que poderiam ser provocados por uma guerra civil.
É um contexto não muito fácil de ser compreendido, mas, sinceramente, isso é o de menos para a apreciação da obra. Há um mal representado por um Império militar que age de forma arbitrária, abusando do poder que tem sobre os clãs escoceses - o que pode ser visto em "políticas" absurdas como a da Prima Nocte, em que senhores de terra se davam ao direito de desvirginar jovens recém casadas, como forma de referendar um casamento entre servos. E há por outro lado um povo cansado de um sem fim de sofrimento - que no caso de Wallace existe desde a sua infância, já que seu pai morre em batalhas com a barbárie se espalhando pelos pequenos povoados (como no caso da cena em que dezenas de pessoas surgem enforcadas). Wallace fica emputecido com tanta injustiça, sendo a morte de Murron a gosta da água. De forma meio desorganizada, mas muito unida e apaixonada, o grupo de camponeses organizado pelo sujeito vai avançando, vencendo algumas campanhas, perdendo em outras, como no caso da Batalha de Falkirk. Destituir, afinal, um Governo tirano e autoritário não é tarefa fácil e isso, definitivamente, não será possível sem o derramamento de um caminhão de sangue.
Nesse sentido, a obra e Gibson é pródiga: as coreografias de batalhas são impressionantes, assim como a edição de som, com os barulhos de cavalos galopando, de espadas brandindo e de gritos ecoando, se misturando em meio a vastas planícies bem fotografadas. Aliás, o desenho de produção é também impressionante não apenas na recriação dos cenários da época (é divertido ver cidades como Edimburgo reimaginadas para o período), o mesmo valendo para o figurino, com o espectador reconhecendo facilmente as diferenças entre os imponentes trajes militares e as roupas quase esfarrapadas dos camponeses (numa metáfora para a situação real da Escócia na época, que chegava ao seu limite). Para quem gosta de filmes de ação e aventura, em que a "jornada do herói" fica claramente estabelecida - meio maniqueísta, mas é parte da diversão -, a obra é uma joia que vale a pena ser redescoberta. O drama relativo ao conceito de "vitória" também é subvertido dentro da narrativa, em meio a traições, gestos de amizade e camaradagem - e confesso que gosto muito de ver o Brendan Gleeson atuando. É filme de capa, de espada, de sangue, de suor, de lágrimas. E que nos deixa presos à cadeira nas três horas de duração. Que passam voando, por sinal.
segunda-feira, 8 de junho de 2020
Grandes Filmes Nacionais - O Quatrilho
De: Fábio Barreto. Com Patrícia Pillar, Glória Pires, Alexandre Peternost, Patricia Pillar, Gianfracesco Guarnieri e Cecil Thiré. Drama / Romance, Brasil, 1995, 113 minutos.
Por causa do filme O Quatrilho, o Brasil esteve entre os indicados na cerimônia do Oscar de 1996 na categoria Filme em Língua Estrangeira - viria a perder para o holandês A Excêntrica Família de Antônia (1995). Era a época da retomada do cinema nacional, com as produções voltando a figurar em festivais estrangeiros. Ganhando visibilidade. E consolidando a força de nossos filmes por pelo menos mais duas décadas, até a chegada do massacre à cultura que ocorre no atual governo - ainda que, paradoxalmente, as nossas produções sigam em alta conta no exterior, vide as vitórias de Bacurau e A Vida Invisível de Eurídice Gusmão no mais recente Festival de Cannes. Sobre O Quatrilho, é possível afirmar que o filme de Fábio Barreto, baseado no livro escrito por José Clemente Pozenato, envelheceu relativamente bem. Há um quê de nostalgia naquele cenário do começo do século passado, no Rio Grande do Sul que, afinal, parece nunca sair de moda.
A trama nos joga para uma pequena comunidade da Serra Gaúcha, local em que imigrantes italianos iniciam as suas vidas - centrando as suas forças no trabalho e na manutenção da família. É lá que dois casais de "compadres" se unirão para adquirir uma área de terras com a intenção de cultivar milho, soja e uvas. Apesar do alto investimento, acreditam que com a construção de um moinho, poderão ter um retorno financeiro mais rápido. Do ponto de vista dos negócios, tudo parece fluir muito bem. O problema são as outras tensões. O que em uma comunidade fechada, conservadora, funcionará como um verdadeiro barril de pólvora pronto a explodir. O filme começa com o casamento de Angelo Gardone (Alexandre Paternost) com Teresa (Patricia Pillar). Eles se dão bem como amigos, mas na intimidade a coisa parece não ser das melhores. E quando Massimo (Bruno Campos) e Pierina (Gloria Pires) se juntam a eles em sociedade, bom, será questão de tempo para que as coisas saiam dos trilhos. Ou, dependendo do ponto de vista, se realinhem.
Como no popular jogo do quatrilho, em que ocorre uma troca de cartas a cada rodada, com a intenção de ficar com o naipe mais alto, Angelo a Massimo acabarão por fazer um intercâmbio meio "forçado" de esposas. A realidade é que Massimo e Teresa se apaixonam bem debaixo do nariz de Angelo e Pierina, que só percebem a traição quando o trem já partiu levando os adúlteros. Assim como no jogo de cartas jogados pelos imigrantes, é preciso buscar forças para recuperar aquilo que se foi perdido. O que Angelo e Pierina farão com persistência e carinho, sob o olhar desacreditado da comunidade. Aliás, o falatório alheio servirá para dar conta da hipocrisia não apenas da sociedade, mas também da Igreja. Considerados impuros, Angelo e Pierina se tornam abnegados. Renegados pelos demais. O que não lhes impedirá de crescer, especialmente com o apoio de parceiros de negócios como Batiston (Claudio Mamberti), Sichoppa (Arcangelo Zorzi) e o ótimo anarquista Iscariot (Pedro Parenti).
Sobre Iscariot, é interessante notar como o filme passa de raspão pelas questões políticas, mas sem julgar o certo e ou errado. Aliás, o filme até se permite um elogio à perseverança dos empresários do meio rural e sua luta pelo fortalecimento das comunidades do interior. Com uma belíssima fotografia, a obra toma de assalto as belas paisagens do interior gaúcho - as filmagens foram em municípios como Antônio Prado e Caxias do Sul -, utilizando-as em seu favor. O mesmo vale para o desenho de produção, que recria o período à perfeição, alternando o bucolismo do mato, das lavouras e das campinas com a cidade emergente, ainda de barro, em que modestas construções de madeira se sobressaem. No fim das contas O Quatrilho segue sendo uma obra simpática, bem humorada e sensual e que se empenha em desconstruir as convenções sociais estabelecidas pelas "famílias de bem". Hoje em dia a gente sabe, um casamento talvez não seja para sempre. Naquela época era um desafio que envolvia um mal estar comunitário. Ainda que o resultado final fosse a simples busca pela felicidade. Algo que, também nós, desejamos para as nossas vidas.
Por causa do filme O Quatrilho, o Brasil esteve entre os indicados na cerimônia do Oscar de 1996 na categoria Filme em Língua Estrangeira - viria a perder para o holandês A Excêntrica Família de Antônia (1995). Era a época da retomada do cinema nacional, com as produções voltando a figurar em festivais estrangeiros. Ganhando visibilidade. E consolidando a força de nossos filmes por pelo menos mais duas décadas, até a chegada do massacre à cultura que ocorre no atual governo - ainda que, paradoxalmente, as nossas produções sigam em alta conta no exterior, vide as vitórias de Bacurau e A Vida Invisível de Eurídice Gusmão no mais recente Festival de Cannes. Sobre O Quatrilho, é possível afirmar que o filme de Fábio Barreto, baseado no livro escrito por José Clemente Pozenato, envelheceu relativamente bem. Há um quê de nostalgia naquele cenário do começo do século passado, no Rio Grande do Sul que, afinal, parece nunca sair de moda.
A trama nos joga para uma pequena comunidade da Serra Gaúcha, local em que imigrantes italianos iniciam as suas vidas - centrando as suas forças no trabalho e na manutenção da família. É lá que dois casais de "compadres" se unirão para adquirir uma área de terras com a intenção de cultivar milho, soja e uvas. Apesar do alto investimento, acreditam que com a construção de um moinho, poderão ter um retorno financeiro mais rápido. Do ponto de vista dos negócios, tudo parece fluir muito bem. O problema são as outras tensões. O que em uma comunidade fechada, conservadora, funcionará como um verdadeiro barril de pólvora pronto a explodir. O filme começa com o casamento de Angelo Gardone (Alexandre Paternost) com Teresa (Patricia Pillar). Eles se dão bem como amigos, mas na intimidade a coisa parece não ser das melhores. E quando Massimo (Bruno Campos) e Pierina (Gloria Pires) se juntam a eles em sociedade, bom, será questão de tempo para que as coisas saiam dos trilhos. Ou, dependendo do ponto de vista, se realinhem.
Como no popular jogo do quatrilho, em que ocorre uma troca de cartas a cada rodada, com a intenção de ficar com o naipe mais alto, Angelo a Massimo acabarão por fazer um intercâmbio meio "forçado" de esposas. A realidade é que Massimo e Teresa se apaixonam bem debaixo do nariz de Angelo e Pierina, que só percebem a traição quando o trem já partiu levando os adúlteros. Assim como no jogo de cartas jogados pelos imigrantes, é preciso buscar forças para recuperar aquilo que se foi perdido. O que Angelo e Pierina farão com persistência e carinho, sob o olhar desacreditado da comunidade. Aliás, o falatório alheio servirá para dar conta da hipocrisia não apenas da sociedade, mas também da Igreja. Considerados impuros, Angelo e Pierina se tornam abnegados. Renegados pelos demais. O que não lhes impedirá de crescer, especialmente com o apoio de parceiros de negócios como Batiston (Claudio Mamberti), Sichoppa (Arcangelo Zorzi) e o ótimo anarquista Iscariot (Pedro Parenti).
Sobre Iscariot, é interessante notar como o filme passa de raspão pelas questões políticas, mas sem julgar o certo e ou errado. Aliás, o filme até se permite um elogio à perseverança dos empresários do meio rural e sua luta pelo fortalecimento das comunidades do interior. Com uma belíssima fotografia, a obra toma de assalto as belas paisagens do interior gaúcho - as filmagens foram em municípios como Antônio Prado e Caxias do Sul -, utilizando-as em seu favor. O mesmo vale para o desenho de produção, que recria o período à perfeição, alternando o bucolismo do mato, das lavouras e das campinas com a cidade emergente, ainda de barro, em que modestas construções de madeira se sobressaem. No fim das contas O Quatrilho segue sendo uma obra simpática, bem humorada e sensual e que se empenha em desconstruir as convenções sociais estabelecidas pelas "famílias de bem". Hoje em dia a gente sabe, um casamento talvez não seja para sempre. Naquela época era um desafio que envolvia um mal estar comunitário. Ainda que o resultado final fosse a simples busca pela felicidade. Algo que, também nós, desejamos para as nossas vidas.
sábado, 6 de junho de 2020
Podcast do Picanha Cultural #6 - Não Basta Não Ser Racista: O Cinema e a Importância do Debate
"Numa sociedade racista não basta não ser racista. É preciso ser antirracista". Neste episódio a gente resolveu pegar a frase de filósofa, escritora e ativista Angela Davis, como o ponto de partida para um debate não apenas atual, mas extremamente necessário, afinal de contas, o racismo saiu efetivamente do armário - sendo "legitimado" por figuras políticas como Trump e Bolsonaro, que propagam ódio e preconceito em praticamente TODAS as suas manifestações. Nossa intenção não é discutir o tema propriamente dito - como homens brancos não temos nem lugar de fala para isso -, mas estabelecer um debate a partir da arte. Mais especificamente sobre o cinema e sobre como ele pode nos auxiliar a compreender a sociedade em que vivemos, gerando empatia, promovendo a reflexão e valorizando o respeito às diferenças. A ideia é pensar sobre o assunto. De alguma forma se apropriar dele, para que possamos estar do lado de quem, diariamente, luta por essa causa. Uma causa que deveria ser a de todos nós.
sexta-feira, 5 de junho de 2020
Cinemúsica - Fantasia (Fantasia)
Hoje em dia essa história é mais do que conhecida: foi uma ideia de JERICO a do Walt Disney a de juntar música clássica e animação no começo dos anos 40, em uma obra que receberia o nome de Fantasia (Fantasia). A intenção era nobre. Nobríssima! Tentar popularizar peças eruditas de Beethoven, Schubert e Stravinsky, juntando-as ao rato mais famoso daquela época - no caso, o Mickey. Foi um fiasco de bilheteria, com os poucos espectadores que se arriscaram, saindo enfastiados da experiência lisérgica, cheia de cores, formas e paisagens que poderiam vir acompanhadas de segmentos do Quebra Nozes, de Tchaikovsky ou de Uma Noite na Montanha Calma, de Mussorgsky. A regência, que ocorria em tempo "real", como parte integrante da película, ficou a cargo do maestro Leopold Stokowsky.
Nas oito histórias, os mais variados "formatos". O mais conhecido, como não poderia deixar de ser é, é aquele que evoca O Aprendiz de Feiticeiro, enquanto o Mickey se esforça para ensinar um grupo de vassouras (!) a levar baldes de água de um lado para o outro. A experiência com magia dá errado, claro, e Mickey quase se afoga enquanto as vassouras vilanescas se replicam de forma intermitente, inundando todo o cenário, ao mesmo tempo em que a música avança, com suas notas cheias de intensidade e volúpia. Aliás, está aí uma das mágicas do filme que contou com um coletivo de diretores e que viria a ser resgatado anos depois, por uma plateia de cinéfilos apaixonada: a de nos fazer pensar em quais as imagens mentais que "enxergamos", ao ouvir certa música. Que formas ou desenhos que se descortinam quando escutamos as notas econômicas da Dança da Fada Açucarada, de Tchaikovsky, por exemplo? Ou a Pastoral de Beethoven?
Bom, no caso da peça que integra o Quebra Nozes, o que vemos é um cenário aquático em que flores, algas e fadas se alternam de forma delicada, em um coletivo de cores reforçado por um brilho impactante. Em outras etapas do balé de Tchaikovsky - aliás, o próprio compositor russo detestava a sua criação, considerando-a excessivamente popularesca -, o que se veem são flores, cogumelos, cachoeiras e peixes, numa dinâmica que equilibra placidez e energia. A suíte se encerra com a primaveril Valsa das Flores, que nos força a um tipo de imagem mental quase óbvia. Já na Pastoral quem invade a tela são personagens da mitologia - de unicórnios a centauros, passando por deuses como Apollo, Baco e Zeus. A suíte, bucólica e onírica, se encerra com querubins de formas bem desenhadas que se misturam com deusas de um paraíso imaginário.
Imaginar. Essa foi a brincadeira de Disney que pretendia fazer um filme por ano nesse estilo, após o lançamento de Fantasia - o que não foi possível, dado o fracasso retumbante de bilheteria e o altíssimo custo de produção. O que ficou da experiência foi o vibrante caráter experimental da iniciativa que, vista hoje com distanciamento, se torna de certa forma compreensível. Disney vinha de dois sucessos, no caso Branca de Neve e Os Sete Anões (1937) e Pinóquio (1940). Se havia hora para arriscar, era aquela. Nunca mais repetiria a ideia. Ao contrário, investiria nos anos seguintes em obras que se tornariam clássicos instantâneos, como Dumbo (1941) e Bambi (1942), que permanecem até hoje no imaginário dos cinéfilos. Já o desfile de paisagens abstratas, com alternância de hipopótamos bailarinos, avestruzes que dançam, flores silvestres, deuses ecumênicos e vulcões que explodem em meio a dinossauros agressivos e danças tribais virou peça de excêntrica curiosidade, mas que foi resgatada em 1999, sendo redescoberta por um séquito de fãs.
Nas oito histórias, os mais variados "formatos". O mais conhecido, como não poderia deixar de ser é, é aquele que evoca O Aprendiz de Feiticeiro, enquanto o Mickey se esforça para ensinar um grupo de vassouras (!) a levar baldes de água de um lado para o outro. A experiência com magia dá errado, claro, e Mickey quase se afoga enquanto as vassouras vilanescas se replicam de forma intermitente, inundando todo o cenário, ao mesmo tempo em que a música avança, com suas notas cheias de intensidade e volúpia. Aliás, está aí uma das mágicas do filme que contou com um coletivo de diretores e que viria a ser resgatado anos depois, por uma plateia de cinéfilos apaixonada: a de nos fazer pensar em quais as imagens mentais que "enxergamos", ao ouvir certa música. Que formas ou desenhos que se descortinam quando escutamos as notas econômicas da Dança da Fada Açucarada, de Tchaikovsky, por exemplo? Ou a Pastoral de Beethoven?
Bom, no caso da peça que integra o Quebra Nozes, o que vemos é um cenário aquático em que flores, algas e fadas se alternam de forma delicada, em um coletivo de cores reforçado por um brilho impactante. Em outras etapas do balé de Tchaikovsky - aliás, o próprio compositor russo detestava a sua criação, considerando-a excessivamente popularesca -, o que se veem são flores, cogumelos, cachoeiras e peixes, numa dinâmica que equilibra placidez e energia. A suíte se encerra com a primaveril Valsa das Flores, que nos força a um tipo de imagem mental quase óbvia. Já na Pastoral quem invade a tela são personagens da mitologia - de unicórnios a centauros, passando por deuses como Apollo, Baco e Zeus. A suíte, bucólica e onírica, se encerra com querubins de formas bem desenhadas que se misturam com deusas de um paraíso imaginário.
Imaginar. Essa foi a brincadeira de Disney que pretendia fazer um filme por ano nesse estilo, após o lançamento de Fantasia - o que não foi possível, dado o fracasso retumbante de bilheteria e o altíssimo custo de produção. O que ficou da experiência foi o vibrante caráter experimental da iniciativa que, vista hoje com distanciamento, se torna de certa forma compreensível. Disney vinha de dois sucessos, no caso Branca de Neve e Os Sete Anões (1937) e Pinóquio (1940). Se havia hora para arriscar, era aquela. Nunca mais repetiria a ideia. Ao contrário, investiria nos anos seguintes em obras que se tornariam clássicos instantâneos, como Dumbo (1941) e Bambi (1942), que permanecem até hoje no imaginário dos cinéfilos. Já o desfile de paisagens abstratas, com alternância de hipopótamos bailarinos, avestruzes que dançam, flores silvestres, deuses ecumênicos e vulcões que explodem em meio a dinossauros agressivos e danças tribais virou peça de excêntrica curiosidade, mas que foi resgatada em 1999, sendo redescoberta por um séquito de fãs.
quarta-feira, 3 de junho de 2020
Lasquinha do Bernardo - A Primeira Vez de Um Homem ou (Punk Mesmo é Falar de Amor)
Texto: Bernardo Siqueira
Há certos chamados do destino que não podemos ignorar. Não lembro com exatidão o dia, o mês ou até mesmo o ano, mas lembro do local e das pessoas. Antigamente, quando nos era permitida a liberdade, havia um cantinho especial em Lajeado, hoje já revitalizado e frequentado por outro público. Antes da construção do teatro da Univates, alguns amigos se encontravam ali com frequência quase religiosa. Vou preservar o nome das personagens, poderia revelar suas identidades, contudo, fica aqui apenas o capricho do autor. O pequeno grupo de pessoas tinha uma finalidade nobre com fim em si mesmo, a amizade. Não é preciso descrever os encontros, a não ser um aspecto comum entre tantos outros encontros: o violão, o cantor e as músicas. O repertório era diverso e imprevisível, lembro-me de uma famosa versão de Dívida do Ultramen declamada (isso mesmo, declamada) com muita propriedade em espanhol, em tradução livre, como os leitores podem imaginar. Não raro, porém, recebíamos alguma “estrela móvel”, um pedestre que por ali passava, alguém que saíra do trabalho ou um amigo de outro amigo que não conhecíamos. Em uma dessas inúmeras noites às margens da Avelino Talini, conheci o homem com o violão, mas não era nosso cantor oficial, nem o mesmo violão e muito menos a mesma música.
A letra que capturou a minha atenção contava sobre um triângulo amoroso e uma flor. Nada mais clichê do que canções de amor, mas essa não era apenas uma canção de amor. Era dramática, era triste, era a minha cara. A dor de um foi a glória do outro. Quando a música acabou, meu primeiro reflexo foi perguntar se aquela era uma obra autoral, não era. O leitor mais próximo já deve ter percebido que escrevo sobre A Flor da banda carioca Los Hermanos que, a partir daquele primeiro acorde, é figurinha mais do que carimbada na minha vida. O resto é história. Comprar os quatro álbuns, ganhar DVDs dos amigos, baixar toda a discografia (aqui não escondo minha idade) e fazer todo o esforço possível para ir ao show, anos depois, em Porto Alegre no Pepsi On Stage. Aquele domingo foi marcante, como toda primeira vez.
No último dia 14, a banda liderada por Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante lançou nas plataformas de streaming um álbum contendo músicas ao vivo executadas durante os shows de 2019, celebrando os vinte anos de lançamento do seu primeiro disco. Foi a desculpa perfeita para ouvir e vibrar novamente com toda a poesia, sentimentalismo e melancolia que são características dos quatro barbudos. Dia desses, após um episódio do podcast do Picanha sobre Guilty Pleasures a questão retornou das cinzas: é vergonhoso gostar de Los Hermanos? É certo que banda carrega uma legião de fãs pelo Brasil, mas percebo muitos amigos e muitos desconhecidos pelos confins da internet desmerecendo o trabalho ou pior, reduzindo toda obra construída em Anna Júlia que, justiça seja feita, é uma ótima música.
A primeira análise óbvia é que há pessoas que não gostam das músicas e ponto final. Não é nesta direção que me dirijo. Uma possível explicação para o demérito seja a própria trajetória da banda, que surge com um ska-punk-rock romântico para fazer inveja aos ultrarromânticos no primeiro disco e vai, aos poucos, se tornando mais intimista, mais reflexiva e mais madura, nas composições e nas narrativas. Talvez encontremos ainda alguém que encha os pulmões para dizer que “eles traíram o movimento!”. Outra tentativa de explicarmos o hate seja a complexidade das letras que foram se modificando à medida que a banda traçava sua trajetória. O fato é que sempre vai ter alguém para proferir o tal “Loser-manos”. Deixar de lado o som frenético, incorporar sensibilidade, ressignificar o amor romântico nas composições não são características de um perdedor, mas sempre haverá aquele que ainda não está pronto para ter essa conversa.
E aqui fica o acerto de contas. Punk mesmo é ter coragem para falar de amor. Atitude rock’n’roll de verdade é poder sentir, é entender que podemos estar tristes e, tudo bem. E não tem problema não entender aquela letra, é estranha mesmo. Há beleza também na dor. Um dia acordarás acreditando ser a pessoa mais sentimental do mundo e podes ficar tranquilo. Olharás o espelho e verás um cara estranho, deslocado, sem saber para onde ir. Não é preciso correr atrás da aprovação dos outros vencedores, seja rebelde, seja punk de verdade. Teu machismo, disfarçado de preconceito musical, precisa acabar.
Afinal, todo carnaval tem seu fim.
Há certos chamados do destino que não podemos ignorar. Não lembro com exatidão o dia, o mês ou até mesmo o ano, mas lembro do local e das pessoas. Antigamente, quando nos era permitida a liberdade, havia um cantinho especial em Lajeado, hoje já revitalizado e frequentado por outro público. Antes da construção do teatro da Univates, alguns amigos se encontravam ali com frequência quase religiosa. Vou preservar o nome das personagens, poderia revelar suas identidades, contudo, fica aqui apenas o capricho do autor. O pequeno grupo de pessoas tinha uma finalidade nobre com fim em si mesmo, a amizade. Não é preciso descrever os encontros, a não ser um aspecto comum entre tantos outros encontros: o violão, o cantor e as músicas. O repertório era diverso e imprevisível, lembro-me de uma famosa versão de Dívida do Ultramen declamada (isso mesmo, declamada) com muita propriedade em espanhol, em tradução livre, como os leitores podem imaginar. Não raro, porém, recebíamos alguma “estrela móvel”, um pedestre que por ali passava, alguém que saíra do trabalho ou um amigo de outro amigo que não conhecíamos. Em uma dessas inúmeras noites às margens da Avelino Talini, conheci o homem com o violão, mas não era nosso cantor oficial, nem o mesmo violão e muito menos a mesma música.
A letra que capturou a minha atenção contava sobre um triângulo amoroso e uma flor. Nada mais clichê do que canções de amor, mas essa não era apenas uma canção de amor. Era dramática, era triste, era a minha cara. A dor de um foi a glória do outro. Quando a música acabou, meu primeiro reflexo foi perguntar se aquela era uma obra autoral, não era. O leitor mais próximo já deve ter percebido que escrevo sobre A Flor da banda carioca Los Hermanos que, a partir daquele primeiro acorde, é figurinha mais do que carimbada na minha vida. O resto é história. Comprar os quatro álbuns, ganhar DVDs dos amigos, baixar toda a discografia (aqui não escondo minha idade) e fazer todo o esforço possível para ir ao show, anos depois, em Porto Alegre no Pepsi On Stage. Aquele domingo foi marcante, como toda primeira vez.
No último dia 14, a banda liderada por Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante lançou nas plataformas de streaming um álbum contendo músicas ao vivo executadas durante os shows de 2019, celebrando os vinte anos de lançamento do seu primeiro disco. Foi a desculpa perfeita para ouvir e vibrar novamente com toda a poesia, sentimentalismo e melancolia que são características dos quatro barbudos. Dia desses, após um episódio do podcast do Picanha sobre Guilty Pleasures a questão retornou das cinzas: é vergonhoso gostar de Los Hermanos? É certo que banda carrega uma legião de fãs pelo Brasil, mas percebo muitos amigos e muitos desconhecidos pelos confins da internet desmerecendo o trabalho ou pior, reduzindo toda obra construída em Anna Júlia que, justiça seja feita, é uma ótima música.
A primeira análise óbvia é que há pessoas que não gostam das músicas e ponto final. Não é nesta direção que me dirijo. Uma possível explicação para o demérito seja a própria trajetória da banda, que surge com um ska-punk-rock romântico para fazer inveja aos ultrarromânticos no primeiro disco e vai, aos poucos, se tornando mais intimista, mais reflexiva e mais madura, nas composições e nas narrativas. Talvez encontremos ainda alguém que encha os pulmões para dizer que “eles traíram o movimento!”. Outra tentativa de explicarmos o hate seja a complexidade das letras que foram se modificando à medida que a banda traçava sua trajetória. O fato é que sempre vai ter alguém para proferir o tal “Loser-manos”. Deixar de lado o som frenético, incorporar sensibilidade, ressignificar o amor romântico nas composições não são características de um perdedor, mas sempre haverá aquele que ainda não está pronto para ter essa conversa.
E aqui fica o acerto de contas. Punk mesmo é ter coragem para falar de amor. Atitude rock’n’roll de verdade é poder sentir, é entender que podemos estar tristes e, tudo bem. E não tem problema não entender aquela letra, é estranha mesmo. Há beleza também na dor. Um dia acordarás acreditando ser a pessoa mais sentimental do mundo e podes ficar tranquilo. Olharás o espelho e verás um cara estranho, deslocado, sem saber para onde ir. Não é preciso correr atrás da aprovação dos outros vencedores, seja rebelde, seja punk de verdade. Teu machismo, disfarçado de preconceito musical, precisa acabar.
Afinal, todo carnaval tem seu fim.
Assinar:
Comentários (Atom)